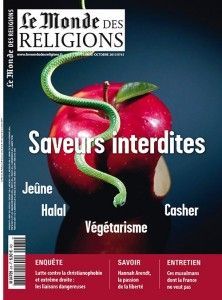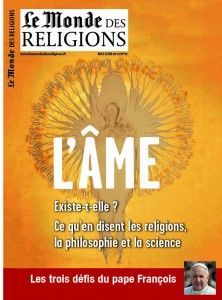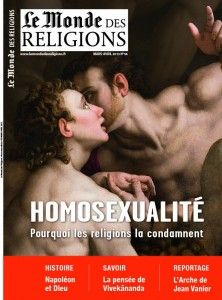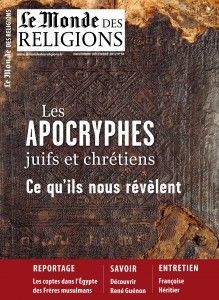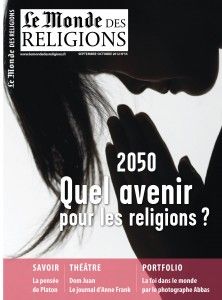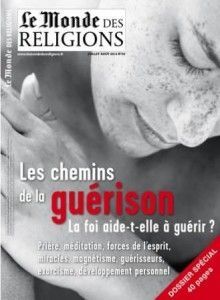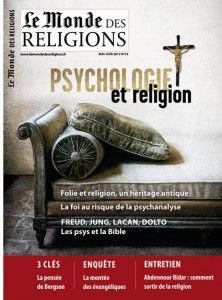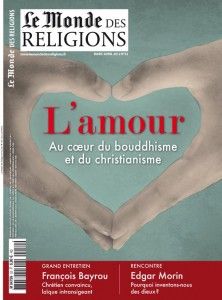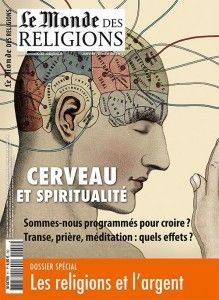Editoriais do Mundo das Religiões
Listados em ordem cronológica decrescente: do mais recente (nov-dez 2013) ao mais antigo (nov-dez 2004)
Salvar
Salvar
Le Monde des Religions nº 62 – Nov/Dez 2013 – Sobre a questão dos milagres, não conheço nenhum texto tão profundo e esclarecedor quanto a reflexão que Spinoza nos oferece no Capítulo 6 de seu Tratado Teológico-Político. “Assim como os homens chamam de divina qualquer ciência que ultrapasse o alcance da mente humana, eles veem a mão de Deus em todo fenômeno cuja causa é geralmente desconhecida”, escreve o filósofo holandês. Ora, Deus não pode agir fora das leis da natureza que ele mesmo estabeleceu. Se existem fenômenos inexplicáveis, estes nunca contradizem as leis naturais, mas nos aparecem como “milagrosos” ou “prodigiosos” porque nosso conhecimento das complexas leis da natureza ainda é limitado. Spinoza explica que os prodígios narrados nas Escrituras são lendários ou o resultado de causas naturais que ultrapassam nossa compreensão: é o caso do Mar Vermelho, que teria se aberto sob o efeito de um vento violento, ou das curas de Jesus, que supostamente mobilizaram recursos até então desconhecidos do corpo ou da mente humana. O filósofo então empreende uma desconstrução política da crença em milagres e denuncia a "arrogância" daqueles que pretendem demonstrar que sua religião ou nação "é mais querida por Deus do que todas as outras". A crença em milagres, entendidos como fenômenos sobrenaturais, não só lhe parece uma "estupidez" contrária à razão, mas também contrária à verdadeira fé, e que a mina: "Se, portanto, ocorresse na natureza um fenômeno que não estivesse de acordo com suas leis, seria necessário admitir que ele é contrário a elas e que subverte a ordem que Deus estabeleceu no universo, dando-lhe leis gerais para regulá-lo eternamente". Disso, devemos concluir que a crença em milagres deveria levar à dúvida universal e ao ateísmo. É com um toque de emoção que escrevo este editorial, pois é o meu último. De fato, já se passaram quase dez anos desde que assumi a direção de Le Monde des Religions. Chegou a hora de passar o bastão e dedicar todo o meu tempo aos meus projetos pessoais: livros, peças de teatro e, em breve, espero, um filme. Tive muita alegria nesta excepcional aventura editorial e agradeço de coração a sua fidelidade, que permitiu que esta revista se tornasse uma verdadeira referência em assuntos religiosos em todo o mundo francófono (ela é distribuída em dezesseis países francófonos). Espero sinceramente que vocês continuem a apoiá-la e tenho o prazer de confiar a sua direção a Virginie Larousse, a editora-chefe, que possui um excelente conhecimento de religiões e uma sólida experiência jornalística. Ela será auxiliada em sua tarefa por um comitê editorial composto por vários rostos conhecidos. Estamos trabalhando juntos em um novo formato que vocês descobrirão em janeiro e que ela apresentará na próxima edição. Tudo de bom para todos. Leia artigos online de Le Monde des Religions: www.lemondedesreligions.fr [...]
O Mundo das Religiões nº 61 – Setembro/Outubro de 2013 – Como escreveu Santo Agostinho em Sobre a Vida Feliz: “O desejo de felicidade é essencial ao homem; é o motivo de todas as nossas ações. A coisa mais venerável, mais compreendida, mais esclarecida e mais constante do mundo não é apenas o desejo de sermos felizes, mas o desejo de sermos nada mais do que isso. É isso que a nossa natureza nos impele a fazer.” Embora todo ser humano aspire à felicidade, a questão é se uma felicidade profunda e duradoura pode existir aqui na Terra. As religiões oferecem respostas muito divergentes a essa questão. As duas posições mais opostas, a meu ver, são as do budismo e do cristianismo. Enquanto toda a doutrina de Buda se baseia na busca de um estado de perfeita serenidade aqui e agora, a de Cristo promete aos fiéis a verdadeira felicidade na vida após a morte. Isso deriva da vida de seu fundador – Jesus morreu tragicamente por volta dos 36 anos – mas também de sua mensagem: o Reino de Deus que ele proclamou não é um reino terreno, mas celestial, e a bem-aventurança ainda está por vir: “Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados” (Mateus 5:5). Em um mundo antigo inclinado a buscar a felicidade no aqui e agora, inclusive dentro do judaísmo, Jesus claramente muda o foco da felicidade para a vida após a morte. Essa esperança no paraíso celestial permearia a história do cristianismo ocidental e, por vezes, levaria a muitas formas de extremismo: ascetismo radical e o desejo de martírio, mortificações e sofrimento buscados na busca do Reino celestial. Mas com a famosa frase de Voltaire – “O paraíso é onde estou” – uma notável mudança de perspectiva ocorreu na Europa a partir do século XVIII: o paraíso não era mais algo a ser esperado na vida após a morte, mas sim alcançado na Terra, por meio da razão e do esforço humano. A crença na vida após a morte — e, portanto, em um paraíso no céu — diminuirá gradualmente, e a grande maioria dos nossos contemporâneos buscará a felicidade aqui e agora. A pregação cristã está se transformando completamente como resultado disso. Depois de terem enfatizado tanto os tormentos do inferno e as alegrias do paraíso, os pregadores católicos e protestantes quase não falam mais da vida após a morte. Os movimentos cristãos mais populares — evangélicos e carismáticos — abraçaram completamente essa nova realidade e afirmam constantemente que a fé em Jesus traz a maior felicidade, aqui mesmo na Terra. E como muitos dos nossos contemporâneos equiparam felicidade à riqueza, alguns chegam ao ponto de prometer aos fiéis "prosperidade econômica" na Terra, graças à fé. Estamos muito longe de Jesus, que declarou que "é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus" (Mateus 19:24)! A verdade profunda do cristianismo reside, sem dúvida, entre esses dois extremos: a rejeição da vida e o ascetismo mórbido — justamente denunciados por Nietzsche — em nome da vida eterna ou do medo do inferno, por um lado; a busca exclusiva da felicidade terrena, por outro. Jesus, em essência, não desprezava os prazeres desta vida e não praticava a “mortificação”: amava beber, comer e compartilhar com seus amigos. Muitas vezes o vemos “saltando de alegria”. Mas ele afirmou claramente que a suprema bem-aventurança não se encontra nesta vida. Ele não rejeita a felicidade terrena, mas coloca outros valores acima dela: o amor, a justiça e a verdade. Assim, demonstra que se pode sacrificar a felicidade terrena e dar a própria vida por amor, para lutar contra a injustiça ou para permanecer fiel à verdade. Os testemunhos contemporâneos de Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela são exemplos poderosos disso. A questão que permanece é: será que o dom de suas vidas encontrará justa recompensa na vida após a morte? Esta é a promessa de Cristo e a esperança de bilhões de fiéis em todo o mundo. Leia os artigos online em Le Monde des Religions: www.lemondedesreligions.fr [...]
O Mundo das Religiões nº 60 – Julho/Agosto de 2013 – Uma história judaica narra que Deus criou Eva antes de Adão. Entediada no paraíso, Eva pediu a Deus que lhe desse um companheiro. Após cuidadosa reflexão, Deus finalmente atendeu ao seu pedido: “Muito bem, criarei o homem. Mas tenha cuidado, ele é muito sensível: nunca lhe diga que você foi criada antes dele, ele reagiria muito mal. Que isso permaneça um segredo entre nós… entre mulheres!” Se Deus existe, é bastante claro que ele não possui gênero. Pode-se, portanto, questionar por que a maioria das grandes religiões criou uma representação exclusivamente masculina dele. Como nos lembra a matéria desta edição, nem sempre foi assim. O culto à Grande Deusa, sem dúvida, precedeu o de “Yahweh, Senhor dos Exércitos”, e as deusas ocupavam um lugar de destaque nos panteões das civilizações antigas. A masculinização do clero é, sem dúvida, uma das principais razões para essa inversão, que ocorreu ao longo dos três milênios que antecederam a nossa era: como poderiam uma cidade e uma religião governadas por homens venerar uma divindade suprema do sexo oposto? Com o desenvolvimento das sociedades patriarcais, a questão foi resolvida: o deus supremo, ou o único deus, não podia mais ser concebido como feminino. Isso se aplicava não apenas à sua representação, mas também ao seu caráter e função: seus atributos de força, domínio e poder eram valorizados. No céu como na terra, o mundo era governado por um masculino dominante. Mesmo que o caráter feminino do divino tenha persistido nas religiões por meio de diversas correntes místicas ou esotéricas, foi somente na era moderna que essa hipermasculinização de Deus foi verdadeiramente desafiada. Não que tenhamos passado de uma representação masculina para uma feminina do divino. Em vez disso, testemunhamos um reequilíbrio. Deus não é mais percebido primordialmente como um juiz formidável, mas sobretudo como bom e misericordioso; Os fiéis depositam cada vez mais sua fé em sua benevolente providência. Pode-se dizer que a figura tipicamente "paternal" de Deus tende a perder força em favor de uma representação mais tipicamente "maternal". Da mesma forma, a sensibilidade, a emoção e a fragilidade são valorizadas na experiência espiritual. Essa evolução está claramente ligada à revalorização da mulher em nossas sociedades modernas, que impacta cada vez mais as religiões, notadamente ao permitir que as mulheres acessem posições de ensino e liderança no culto. Reflete também o reconhecimento, em nossas sociedades modernas, de qualidades e valores identificados como mais "tipicamente" femininos, mesmo que obviamente digam respeito tanto aos homens quanto às mulheres: compaixão, abertura, acolhimento e proteção da vida. Diante do alarmante ressurgimento do machismo entre fundamentalistas religiosos de todas as matizes, estou convencido de que essa revalorização da mulher e essa feminização do divino constituem a chave principal para uma verdadeira renovação espiritual dentro das religiões. Sem dúvida, a mulher é o futuro de Deus. Aproveito esta oportunidade para homenagear duas mulheres bem conhecidas de nossos leitores fiéis. Jennifer Schwarz, ex-editora-chefe da sua revista, está embarcando em novas aventuras. Agradeço-lhe de coração pelo entusiasmo e generosidade com que se dedicou ao seu cargo durante mais de cinco anos. Dou também as boas-vindas à sua sucessora: Virginie Larousse. A Sra. Larousse dirigiu durante muitos anos uma revista acadêmica dedicada às religiões e lecionou história das religiões na Universidade da Borgonha. Ela contribuiu para o Le Monde des Religions durante muitos anos. [...]
Le Monde des Religions nº 59 – maio/junho de 2013 – Convidado a comentar o evento ao vivo na France 2, quando descobri que o novo papa era Jorge Mario Bergoglio, minha reação imediata foi dizer que se tratava de um evento verdadeiramente espiritual. A primeira vez que ouvi falar do Arcebispo de Buenos Aires foi cerca de dez anos antes, por meio do Abade Pierre. Durante uma viagem à Argentina, ele ficou impressionado com a simplicidade desse jesuíta que havia deixado o magnífico palácio episcopal para viver em um apartamento modesto e que frequentemente ia sozinho às favelas. A escolha do nome Francisco, ecoando o Pobrezinho de Assis, apenas confirmou que estávamos prestes a testemunhar uma profunda mudança na Igreja Católica. Não uma mudança na doutrina, nem provavelmente na moral, mas na própria concepção do papado e no modo de governança da Igreja. Apresentando-se aos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro como "o Bispo de Roma" e pedindo à multidão que rezasse por ele antes de rezar com eles, Francisco demonstrou em poucos minutos, por meio de inúmeros gestos, sua intenção de retornar a uma compreensão humilde de seu papel. Essa compreensão remonta à dos primeiros cristãos, que ainda não haviam feito do Bispo de Roma não apenas o chefe universal de toda a cristandade, mas também um verdadeiro monarca à frente de um Estado temporal. Desde sua eleição, Francisco multiplicou seus atos de caridade. Surge agora a questão de até onde ele irá na imensa tarefa de renovar a Igreja que o aguarda. Reformará finalmente a Cúria Romana e o Banco do Vaticano, abalados por escândalos há mais de 30 anos? Implementará um sistema colegiado de governo para a Igreja? Buscará manter o atual status do Estado da Cidade do Vaticano, legado dos antigos Estados Pontifícios, que contradiz flagrantemente o testemunho de pobreza de Jesus e sua rejeição ao poder temporal? Como ele também abordará os desafios do ecumenismo e do diálogo inter-religioso, temas que lhe interessam profundamente? E quanto à evangelização, num mundo onde o fosso entre o discurso da Igreja e a vida das pessoas, especialmente no Ocidente, continua a aumentar? Uma coisa é certa: Francisco possui as qualidades de coração e intelecto, e até mesmo o carisma, necessários para levar este grande sopro do Evangelho ao mundo católico e além, como demonstram as suas primeiras declarações em favor de uma paz mundial fundada no respeito pela diversidade das culturas e, de facto, por toda a criação (talvez pela primeira vez, os animais têm um papa que se preocupa com eles!). As duras críticas que enfrentou imediatamente após sua eleição, acusando-o de conluio com a antiga junta militar quando era um jovem superior dos jesuítas, diminuíram alguns dias depois, particularmente após seu compatriota e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel — preso por 14 meses e torturado pela junta militar — declarar que o novo papa, ao contrário de outros clérigos, não tinha “nenhuma ligação com a ditadura”. Francisco está, portanto, desfrutando de um período de graça que poderia levá-lo a dar qualquer passo ousado. Contanto, porém, que não sofra o mesmo destino de João Paulo I, que inspirou tanta esperança antes de morrer enigmaticamente menos de um mês após sua eleição. Francisco está, sem dúvida, certo em pedir aos fiéis que rezem por ele. www.lemondedesreligions.fr [...]
Le Monde des Religions nº 58 – Março/Abril de 2013 – Sem dúvida, parecerá estranho para alguns de nossos leitores que, após o acalorado debate parlamentar na França sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, dediquemos grande parte desta edição à forma como as religiões encaram a homossexualidade. Certamente, abordamos os elementos essenciais desse debate, que também toca na questão da filiação, na segunda parte da edição, com os pontos de vista contrastantes do Rabino Chefe da França, Gilles Bernheim, dos filósofos Olivier Abel e Thibaud Collin, da psicanalista e etnóloga Geneviève Delaisi de Parseval e da socióloga Danièle Hervieu-Léger. Mas parece-me que uma questão importante foi amplamente negligenciada até agora: o que as religiões pensam sobre a homossexualidade e como trataram os homossexuais ao longo dos séculos? Essa questão foi contornada pela maioria dos líderes religiosos, que imediatamente colocaram o debate no âmbito da antropologia e da psicanálise, em vez da teologia ou do direito religioso. As razões para isso tornam-se mais claras quando se examina mais de perto como a homossexualidade é veementemente criticada na maioria dos textos sagrados e como os homossexuais ainda são tratados em muitas partes do mundo em nome da religião. Pois, embora a homossexualidade fosse amplamente tolerada na antiguidade, ela é apresentada como uma grande perversão nas escrituras judaicas, cristãs e muçulmanas. "Se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, é uma abominação; certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles", está escrito em Levítico (Levítico 20:13). A Mishná não diz nada diferente, e os Padres da Igreja não encontraram palavras suficientemente duras para essa prática que, nas palavras de Tomás de Aquino, "ofende a Deus", já que, aos seus olhos, viola a própria ordem da natureza desejada pelo Todo-Poderoso. Sob os reinados dos imperadores Teodósio e Justiniano, devotos cristãos, os homossexuais eram passíveis de pena de morte, suspeitos de conspirar com o diabo e responsabilizados por desastres naturais e epidemias. O Alcorão, em cerca de trinta versículos, condena esse ato "antinatural" e "ultrajante", e a lei islâmica (Sharia) ainda hoje condena homens homossexuais a punições que variam de país para país, desde prisão até enforcamento, incluindo cem chicotadas. As religiões asiáticas são geralmente mais tolerantes à homossexualidade, mas ela é condenada pelo Vinaya, o código monástico das comunidades budistas, e por certos ramos do hinduísmo. Embora as posições das instituições judaicas e cristãs tenham se suavizado consideravelmente nas últimas décadas, a homossexualidade ainda é considerada crime ou delito em cerca de cem países e continua sendo uma das principais causas de suicídio entre jovens (na França, um em cada três homossexuais com menos de 20 anos tentou suicídio devido à rejeição social). É essa violenta discriminação, alimentada por milênios por argumentos religiosos, que também quisemos destacar. O debate complexo e essencial permanece, não apenas sobre o casamento, mas sobretudo sobre a família (já que a verdadeira questão não é a igualdade de direitos civis entre casais do mesmo sexo e heterossexuais, mas sim a da filiação e questões bioéticas). Este debate vai além das reivindicações dos casais do mesmo sexo, pois aborda questões de adoção, reprodução assistida e barriga de aluguel, que podem afetar casais heterossexuais da mesma forma. O governo sabiamente adiou a discussão para o outono, buscando o parecer do Comitê Nacional de Ética. Tratam-se, de fato, de questões cruciais que não podem ser evitadas ou resolvidas com argumentos simplistas como "isso está desestabilizando nossas sociedades" — que, na verdade, já estão desestabilizadas — ou, inversamente, "é a marcha inevitável do mundo": qualquer desenvolvimento deve ser avaliado à luz do que é bom para a humanidade e a sociedade. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/58/ [...]
Le Monde des Religions nº 57 – Janeiro/Fevereiro de 2013 – A ideia de que cada indivíduo pode “encontrar seu caminho espiritual” é eminentemente moderna? Sim e não. No Oriente, na época de Buda, encontramos muitos buscadores do Absoluto que procuravam um caminho pessoal para a libertação. Na Antiguidade greco-romana, cultos de mistério e inúmeras escolas filosóficas – dos pitagóricos aos neoplatônicos, incluindo os estoicos e epicuristas – ofereciam muitos caminhos iniciáticos e caminhos para a sabedoria para indivíduos que buscavam uma vida boa. O desenvolvimento subsequente das principais civilizações, cada uma fundada em uma religião que dava sentido à vida individual e coletiva, limitou as ofertas espirituais. No entanto, dentro de cada grande tradição, sempre encontraremos diversas correntes espirituais, respondendo a uma certa diversidade de expectativas individuais. Assim, dentro do cristianismo, as numerosas ordens religiosas oferecem uma ampla variedade de sensibilidades espirituais: das mais contemplativas, como os cartuxos ou carmelitas, às mais intelectuais, como os dominicanos ou jesuítas, ou aquelas que enfatizam a pobreza (franciscanos), o equilíbrio entre trabalho e oração (beneditinos) ou a ação caritativa (Irmãos e Irmãs de São Vicente de Paulo, Missionárias da Caridade). Além daqueles comprometidos com a vida religiosa, associações de leigos desenvolveram-se a partir do final da Idade Média, vivendo, na maioria das vezes, na esfera de influência das principais ordens, mesmo que nem sempre fossem bem vistas pela instituição, como evidenciado pela perseguição sofrida pelas beguinas. O mesmo fenômeno pode ser encontrado no islamismo com o desenvolvimento de numerosas confrarias sufistas, algumas das quais também foram perseguidas. A sensibilidade mística judaica encontrou expressão no nascimento da Cabala, e uma grande diversidade de escolas e movimentos espirituais continuou a florescer na Ásia. A modernidade trouxe dois novos elementos: o declínio da religião coletiva e a fusão de culturas. Isso levou a novos sincretismos espirituais ligados às aspirações pessoais de cada indivíduo em busca de significado, e ao desenvolvimento de uma espiritualidade secular que se expressa fora de qualquer crença ou prática religiosa. Essa situação não é totalmente inédita, pois lembra a Roma Antiga, mas a mistura de culturas é muito mais intensa (hoje, todos têm acesso a toda a herança espiritual da humanidade), e também estamos testemunhando uma verdadeira democratização da busca espiritual, que não se limita mais a uma elite social. Mas, em meio a todas essas transformações, uma questão essencial permanece: cada indivíduo deve buscar, e pode encontrar, o caminho espiritual que lhe permita realizar-se plenamente? Minha resposta é, sem dúvida, sim. Ontem, como hoje, o caminho espiritual é fruto de uma jornada pessoal, e essa jornada tem mais chances de sucesso se cada pessoa buscar um caminho adequado à sua sensibilidade, suas habilidades, sua ambição, seus desejos e suas perguntas. É claro que alguns indivíduos se sentem perdidos diante da vasta gama de caminhos disponíveis atualmente. "Qual é o melhor caminho espiritual?" Certa vez, perguntaram ao Dalai Lama qual era a sua resposta: "Aquela que te torna uma pessoa melhor". Este é, sem dúvida, um excelente critério de discernimento. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/57/ Salvar [...]
O Mundo das Religiões nº 56 – Nov/Dez 2012 – Existem os fanáticos de Deus. Aqueles que matam em nome de sua religião. De Moisés, que ordenou o massacre dos cananeus, aos jihadistas da Al-Qaeda, passando pelo Grande Inquisidor católico, o fanatismo religioso assume várias formas dentro das religiões monoteístas, mas sempre deriva da mesma identidade central: matar — ou ordenar que se mate — é feito para proteger a pureza do sangue ou da fé, para defender a comunidade (ou mesmo uma cultura, como no caso de Brejvik) contra aqueles que a ameaçam, para estender o domínio da religião sobre a sociedade. O fanatismo religioso é um desvio drástico da mensagem bíblica e corânica que visa primordialmente educar os seres humanos para o respeito ao próximo. Este é o veneno disseminado pelo comunitarismo: o sentimento de pertencimento — ao povo, à instituição, à comunidade — torna-se mais importante do que a própria mensagem, e “Deus” é reduzido a um mero álibi para autodefesa e dominação. O fanatismo religioso foi minuciosamente analisado e denunciado pelos filósofos do Iluminismo há mais de dois séculos. Eles lutaram pela liberdade de consciência e de expressão em sociedades ainda dominadas pela religião. Graças a eles, nós, no Ocidente, somos livres hoje não apenas para crer ou não crer, mas também para criticar a religião e denunciar seus perigos. Mas essa luta e essa liberdade arduamente conquistada não devem nos fazer esquecer que esses mesmos filósofos almejavam que todos pudessem viver em harmonia dentro do mesmo espaço político. A liberdade de expressão, seja intelectual ou artística, não se destina, portanto, a atacar os outros apenas para provocar ou incitar conflitos. Além disso, John Locke acreditava, em nome da paz social, que os ateus mais virulentos deveriam ser silenciados em público, assim como os católicos mais intransigentes! O que ele diria hoje daqueles que produzem e distribuem online um filme artisticamente deplorável, que ataca o que é mais sagrado para os muçulmanos — a figura do Profeta — com o único propósito de fomentar tensões entre o Ocidente e o mundo islâmico? O que ele diria àqueles que atiçam ainda mais o fogo publicando novas caricaturas de Maomé, com o objetivo de vender jornais, alimentando as brasas ainda fumegantes da raiva entre muitos muçulmanos em todo o mundo? E quais são os resultados? Mortes, minorias cristãs cada vez mais ameaçadas em países muçulmanos e tensões crescentes em todo o mundo. A luta pela liberdade de expressão — por mais nobre que seja — não elimina a necessidade de uma análise geopolítica da situação: grupos extremistas exploram imagens para mobilizar multidões em torno de um inimigo comum, um Ocidente idealizado reduzido a uma fantasia cinematográfica e algumas caricaturas. Vivemos em um mundo interconectado, sujeito a inúmeras tensões que ameaçam a paz mundial. O que os filósofos iluministas defendiam em escala nacional agora é válido em escala global: críticas caricaturais cujo único propósito é ofender os crentes e provocar os mais extremistas entre eles são tolas e perigosas. Seu principal efeito é fortalecer o campo dos fanáticos religiosos e minar os esforços daqueles que tentam estabelecer um diálogo construtivo entre culturas e religiões. Liberdade implica responsabilidade e preocupação com o bem comum. Sem isso, nenhuma sociedade é viável. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2012/56/ Salvar [...]
O Mundo das Religiões nº 55 – Setembro/Outubro de 2012 — Há cerca de trinta anos, quando iniciei meus estudos em sociologia e história das religiões, o único tema de conversa era a "secularização", e a maioria dos especialistas em estudos religiosos acreditava que a religião se transformaria gradualmente e depois se dissolveria nas sociedades europeias cada vez mais marcadas pelo materialismo e pelo individualismo. O modelo europeu se espalharia então para o resto do mundo com a globalização dos valores e estilos de vida ocidentais. Em suma, a religião estava fadada ao fracasso a longo prazo. Nos últimos dez anos, aproximadamente, o modelo e a análise se inverteram: falamos de "dessecularização", vemos a ascensão de movimentos religiosos conservadores e baseados na identidade em todos os lugares, e Peter Berger, o grande sociólogo americano da religião, observa que "o mundo continua tão fervorosamente religioso como sempre foi". A Europa é, portanto, vista como uma exceção global, mas que corre o risco de ser cada vez mais afetada por essa nova onda religiosa. Então, qual o cenário para o futuro? Com base nas tendências atuais, observadores perspicazes oferecem, nesta edição especial, um panorama possível das religiões mundiais até 2050. O cristianismo ampliaria sua vantagem sobre as demais religiões, principalmente devido à demografia dos países em desenvolvimento, mas também ao forte crescimento dos evangélicos e pentecostais nos cinco continentes. O islamismo continuaria a crescer devido à sua população, mas espera-se que esse crescimento diminua consideravelmente, especialmente na Europa e na Ásia, o que acabará por limitar a expansão da religião muçulmana, que atrai muito menos conversões do que o cristianismo. O hinduísmo e o budismo permaneceriam relativamente estáveis, mesmo que os valores e certas práticas deste último (como a meditação) continuem a se difundir cada vez mais no Ocidente e na América Latina. Assim como outras religiões minoritárias muito pequenas e ligadas a laços sanguíneos, o judaísmo permanecerá estável ou entrará em declínio, dependendo de diversos cenários demográficos e do número de casamentos mistos. Mas, para além dessas tendências gerais, como Jean-Paul Willaime e Raphaël Liogier nos lembram cada um à sua maneira, as religiões continuarão a se transformar e a ser afetadas pela modernidade, particularmente pela individualização e pela globalização. Hoje, os indivíduos têm uma visão cada vez mais pessoal da religião e criam sua própria estrutura de significado, por vezes sincrética, frequentemente improvisada. Mesmo os movimentos fundamentalistas ou integralistas são produto de indivíduos ou grupos de indivíduos que constroem uma "religião pura de origem" reinventada. Enquanto o processo de globalização continuar, as religiões continuarão a fornecer pontos de referência para a identidade de indivíduos que não os possuem e que se sentem ansiosos, culturalmente invadidos ou dominados. E enquanto a humanidade buscar significado, continuará a procurar respostas na vasta herança religiosa da humanidade. Mas essas buscas por identidade e espiritualidade não podem mais ser vivenciadas, como no passado, dentro de uma tradição imutável ou de uma estrutura institucional normativa. O futuro das religiões, portanto, depende não apenas do número de fiéis, mas também de como eles reinterpretarão o legado do passado. E é precisamente essa a maior incógnita que torna qualquer análise prospectiva de longo prazo arriscada. Assim, na falta de racionalidade, podemos sempre imaginar e sonhar. É também isso que oferecemos nesta edição, por meio de nossos colunistas, que concordaram em responder à pergunta: "Qual religião você imagina para 2050?" [...]
O Mundo das Religiões nº 54 – Julho/Agosto de 2012 — Um número crescente de estudos científicos demonstra a correlação entre fé e cura, confirmando observações feitas desde tempos imemoriais: o ser humano, animal pensante, tem uma relação diferente com a vida, a doença e a morte, dependendo do seu nível de confiança. Da autoconfiança, da confiança no terapeuta, na ciência, em Deus, e incluindo o efeito placebo, surge uma questão crucial: a crença ajuda na cura? Que influência a mente — por meio da oração ou da meditação, por exemplo — exerce sobre o processo de cura? Qual a importância das convicções do médico na sua relação de cuidado e apoio ao paciente? Essas questões importantes lançam nova luz sobre perguntas essenciais: o que é doença? O que significa "cura"? Em última análise, a cura é sempre autocura: é o corpo e a mente da pessoa doente que promovem a cura. É por meio da regeneração celular que o corpo recupera o equilíbrio perdido. Muitas vezes, é útil, até mesmo necessário, apoiar o corpo enfermo por meio de intervenção terapêutica e medicação. No entanto, esses fatores apenas auxiliam o processo de autocura do paciente. A dimensão psicológica, a fé, o moral e o ambiente relacional também desempenham um papel crucial nesse processo de cura. Portanto, a pessoa como um todo está envolvida no processo de cura. O equilíbrio entre corpo e mente não pode ser restaurado sem um comprometimento genuíno do paciente em recuperar sua saúde, sem confiança nos cuidados recebidos e, talvez, para alguns, sem confiança na vida em geral ou em um poder superior benevolente que os auxilie. Da mesma forma, às vezes, a cura — ou seja, o retorno ao equilíbrio — não pode ocorrer sem uma mudança no ambiente do paciente: seu ritmo e estilo de vida, sua dieta, suas práticas de respiração ou cuidados com o corpo e seus relacionamentos emocionais, de amizade e profissionais. Isso porque muitas doenças são o sintoma local de um desequilíbrio mais global na vida do paciente. Se o paciente não se conscientizar disso, ele irá de doença em doença ou sofrerá de doenças crônicas, depressão e assim por diante. O que os caminhos para a cura nos ensinam é que não podemos tratar um ser humano como uma máquina. Não podemos tratar uma pessoa como se conserta uma bicicleta, trocando apenas a roda torta ou o pneu furado. É a dimensão social, emocional e espiritual da pessoa que se expressa na doença, e é essa dimensão holística que deve ser levada em consideração para tratá-la. Enquanto não integrarmos isso de fato, há grandes chances de a França continuar sendo campeã mundial no consumo de ansiolíticos e antidepressivos, e no déficit de seu sistema de seguridade social, por muito tempo [...]
O Mundo das Religiões nº 53 – Maio/Junho de 2012 — Hoje, o foco está mais na busca pela identidade, na redescoberta das próprias raízes culturais e na solidariedade comunitária. E, infelizmente, cada vez mais também: no isolamento, no medo do outro, na rigidez moral e no dogmatismo estreito. Nenhuma região do mundo, nenhuma religião, escapa a esse vasto movimento global de identidade e retorno normativo. De Londres ao Cairo, passando por Délhi, Houston e Jerusalém, a tendência é o uso do véu ou da peruca pelas mulheres, sermões rigorosos e o triunfo dos guardiões do dogma. Ao contrário do que vivenciei no final da década de 1970, os jovens que ainda se interessam por religião são, em sua maioria, menos motivados por um desejo de sabedoria ou uma busca pelo autoconhecimento do que pela necessidade de fortes pontos de referência e pelo desejo de estarem enraizados nas tradições de seus ancestrais. Felizmente, essa tendência não é inevitável. Ela nasceu como um antídoto para os excessos da globalização descontrolada e a brutal individualização de nossas sociedades. Foi também uma reação a um liberalismo econômico desumanizador e a uma liberalização moral muito rápida. Estamos, portanto, testemunhando uma oscilação pendular muito clássica. Depois da liberdade, a lei. Depois do indivíduo, o grupo. Depois das visões utópicas de mudança, a segurança dos modelos do passado. Reconheço prontamente que há algo saudável nesse retorno à identidade. Após um excesso de individualismo libertário e consumista, é bom redescobrir a importância dos laços sociais, da lei, da virtude. O que deploro é a natureza excessivamente rígida e intolerante da maioria dos retornos atuais à religião. Pode-se reintegrar-se a uma comunidade sem cair no comunitarismo; aderir à mensagem ancestral de uma grande tradição sem se tornar sectário; querer levar uma vida virtuosa sem ser moralista. Diante dessas atitudes rígidas, existe, felizmente, um antídoto dentro das próprias religiões: a espiritualidade. Quanto mais os fiéis se aprofundam em sua própria tradição, mais descobrem tesouros de sabedoria capazes de tocar seus corações e abrir suas mentes, lembrando-os de que todos os seres humanos são irmãos e irmãs, e que a violência e o julgamento alheio são ofensas mais graves do que transgredir regras religiosas. O aumento da intolerância religiosa e do sectarismo me preocupa, mas não as religiões em si, que certamente podem produzir o pior, mas também o melhor [...]
O Mundo das Religiões nº 52 – Março/Abril de 2012 — A questão de como os franceses votam de acordo com sua religião é raramente abordada. Embora, em virtude do princípio do laicismo, a filiação religiosa não seja solicitada nos censos desde o início da Terceira República, existem pesquisas de opinião que fornecem algumas informações sobre o assunto. Devido ao tamanho reduzido das amostras, no entanto, essas pesquisas não conseguem mensurar religiões que representam uma minoria muito pequena, como o judaísmo, o protestantismo ou o budismo, cada uma com menos de um milhão de adeptos. Podemos, contudo, ter uma ideia clara dos padrões de votação daqueles que se identificam como católicos (aproximadamente 60% da população francesa, incluindo 25% de católicos praticantes) e muçulmanos (aproximadamente 5%), bem como daqueles que se declaram "sem religião" (aproximadamente 30% da população francesa). Uma pesquisa da revista Sofres/Pèlerin, realizada em janeiro passado, confirma a histórica inclinação à direita dos católicos franceses. No primeiro turno, 33% votariam em Nicolas Sarkozy, número que sobe para 44% entre os católicos praticantes. 21% também votariam em Marine Le Pen, mas esse percentual é inferior à média nacional entre os católicos praticantes (18%). No segundo turno, 53% dos católicos votariam em Nicolas Sarkozy, contra 47% para François Hollande, e 67% dos católicos praticantes votariam na candidata de direita – e até 75% dos frequentadores assíduos da igreja. Esta pesquisa também revela que, embora os católicos se alinhem com o eleitor francês médio na priorização da segurança no emprego e do poder de compra, eles se preocupam menos do que outros com a redução da desigualdade e da pobreza… mas mais com o combate ao crime. Em última análise, a fé e os valores evangélicos têm menos peso no voto político da maioria dos católicos do que as preocupações econômicas ou de segurança. Na verdade, pouco importa se o candidato é católico ou não. É surpreendente notar que o único candidato presidencial de destaque que declara abertamente sua prática católica, François Bayrou, não está conquistando mais votos entre os católicos do que entre o restante da população. A maioria dos católicos franceses, especialmente os praticantes, está apegada a um sistema de valores baseado na ordem e na estabilidade. No entanto, François Bayrou defende uma visão progressista sobre diversas questões sociais com implicações éticas fundamentais. Isso provavelmente incomodará uma parcela significativa do eleitorado católico tradicional. Nicolas Sarkozy certamente percebeu isso, pois permanece coerente com as posições católicas tradicionais sobre leis de bioética, parentalidade por casais do mesmo sexo e casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por fim, pesquisas realizadas pelo Centro de Pesquisa Política Sciences Po mostram que os muçulmanos franceses, diferentemente dos católicos, votam esmagadoramente em partidos de esquerda (78%). Embora três quartos deles ocupem empregos pouco qualificados, um padrão de votação especificamente ligado à religião é evidente: 48% dos trabalhadores e funcionários muçulmanos se identificam como de esquerda, em comparação com 26% dos trabalhadores e funcionários católicos e 36% dos trabalhadores e funcionários sem religião. A população "não religiosa" como um todo — uma categoria que continua a crescer — também vota fortemente na esquerda (71%). Isso revela uma estranha aliança entre os "não religiosos" — na maioria das vezes progressistas em questões sociais — e os muçulmanos franceses, que são inegavelmente mais conservadores nessas mesmas questões, mas comprometidos com uma mentalidade de "qualquer coisa menos Sarkozy". [...]
O Mundo das Religiões nº 51 – Janeiro/Fevereiro de 2012 — Nossa matéria destaca um fato importante: a experiência espiritual em suas diversas formas – oração, transe xamânico, meditação – deixa uma marca corporal no cérebro. Além do debate filosófico que surge disso e das interpretações materialistas ou espiritualistas que podem ser feitas a respeito, extraio outra lição desse fato. É que a espiritualidade é, antes de tudo, uma experiência vivida que toca a mente tanto quanto o corpo. Dependendo do condicionamento cultural de cada pessoa, ela se referirá a objetos ou representações muito diferentes: um encontro com Deus, com uma força inefável ou absoluta, com as profundezas misteriosas do espírito. Mas essas representações sempre compartilharão o fio condutor de despertar uma profunda paz interior, uma expansão da consciência e, muitas vezes, do coração. O sagrado, qualquer que seja o nome ou a forma que lhe seja dada, transforma quem o vivencia. E o afeta profundamente em todo o seu ser: corpo emocional, psique e espírito. Muitos crentes, no entanto, não têm essa experiência. Para eles, a religião é primordialmente um marcador de identidade pessoal e coletiva, um código moral, um conjunto de crenças e regras a serem observadas. Em suma, a religião é reduzida à sua dimensão social e cultural. Podemos identificar na história o momento em que essa dimensão social da religião emergiu e gradualmente ofuscou a experiência pessoal: a transição da vida nômade, onde a humanidade vivia em comunhão com a natureza, para a vida sedentária, onde as cidades foram criadas e os espíritos da natureza — com os quais o contato era estabelecido por meio de estados alterados de consciência — foram substituídos pelos deuses da cidade, aos quais eram oferecidos sacrifícios. A própria etimologia da palavra sacrifício — "tornar sagrado" — mostra claramente que o sagrado não é mais vivenciado: ele é realizado por meio de um gesto ritual (oferenda aos deuses) destinado a garantir a ordem mundial e proteger a cidade. E essa tarefa é delegada pela população, agora numerosa, a um clero especializado. A religião assume, assim, uma dimensão essencialmente social e política: ela cria laços e une uma comunidade em torno de crenças, regras éticas e rituais compartilhados. É em reação a essa dimensão excessivamente externa e coletiva que, por volta de meados do primeiro milênio a.C., surge uma gama diversificada de sábios em todas as civilizações, buscando reabilitar a experiência pessoal do sagrado: Lao Tzu na China, os autores dos Upanishads e o Buda na Índia, Zoroastro na Pérsia, os fundadores dos cultos de mistério e Pitágoras na Grécia, e os profetas de Israel até Jesus. Esses movimentos espirituais frequentemente emergem dentro de tradições religiosas, que tendem a transformar ao desafiá-las internamente. Essa extraordinária onda de misticismo, que continua a surpreender os historiadores com sua convergência e sincronia nas diversas culturas do mundo, está transformando as religiões ao introduzir uma dimensão pessoal que, de muitas maneiras, reconecta com a experiência do sagrado primordial em sociedades primitivas. E me impressiona o quanto nossa era se assemelha a esse período antigo: é justamente essa dimensão que interessa cada vez mais aos nossos contemporâneos, muitos dos quais se distanciaram da religião, que consideram fria, social e externa demais. Este é o paradoxo de uma ultramodernidade que tenta se reconectar com as formas mais arcaicas do sagrado: um sagrado que é mais vivenciado do que "criado". O século XXI é, portanto, tanto religioso, devido ao ressurgimento da identidade diante dos temores gerados pela globalização acelerada, quanto espiritual, devido a essa necessidade de experiência e transformação sentida por muitos indivíduos, religiosos ou não. [...]
O Mundo das Religiões nº 50 – Novembro/Dezembro de 2011 — O mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012? Por muito tempo, ignorei a famosa profecia atribuída aos maias. Mas, nos últimos meses, muitas pessoas têm me perguntado sobre ela, frequentemente me assegurando que seus filhos adolescentes estão ansiosos por causa das informações que leem na internet ou influenciados pelo filme de desastre de Hollywood, 2012. A profecia maia é autêntica? Existem outras profecias religiosas sobre o iminente fim do mundo, como as que se encontram na internet? O que as religiões dizem sobre o fim dos tempos? A matéria desta edição responde a essas perguntas. Mas o sucesso desse boato em torno de 21 de dezembro de 2012 levanta outra questão: como podemos explicar a ansiedade de muitos de nossos contemporâneos, a maioria dos quais não é religiosa, e para quem tal boato parece plausível? Vejo duas explicações. Em primeiro lugar, estamos vivendo uma era particularmente angustiante, na qual a humanidade se sente como se estivesse a bordo de um trem desgovernado. De fato, nenhuma instituição, nenhum Estado parece capaz de deter a corrida desenfreada rumo ao desconhecido — e talvez ao abismo — para a qual a ideologia consumista e a globalização econômica sob a égide do capitalismo neoliberal nos estão impulsionando: aumentos drásticos na desigualdade; catástrofes ecológicas que ameaçam todo o planeta; especulação financeira descontrolada que está enfraquecendo toda a economia global. Além disso, há as transformações em nossos estilos de vida que transformaram os ocidentais em amnésicos desenraizados, igualmente incapazes de se projetarem no futuro. Nossos estilos de vida, sem dúvida, mudaram mais no último século do que nos três ou quatro milênios anteriores. O europeu do passado vivia predominantemente no campo, observando a natureza, enraizado em um mundo rural de ritmo lento e unido, e imerso em tradições ancestrais. O mesmo se aplicava às pessoas na Idade Média e na Antiguidade. O europeu de hoje é esmagadoramente urbano; Eles se sentem conectados a todo o planeta, mas carecem de fortes laços locais; levam uma existência individualista em ritmo frenético e muitas vezes se distanciaram das tradições ancestrais. Talvez devamos retroceder ao período Neolítico (por volta de 10.000 a.C. no Oriente Próximo e por volta de 3.000 a.C. na Europa), quando os humanos abandonaram o estilo de vida nômade de caçadores-coletores e se estabeleceram em aldeias, desenvolvendo a agricultura e a pecuária, para encontrar uma revolução tão radical quanto a que estamos vivenciando atualmente. Isso tem profundas consequências para nossa psique. A velocidade com que essa revolução ocorreu gera incerteza, perda de referências fundamentais e enfraquecimento dos laços sociais. É fonte de preocupação, ansiedade e uma confusa sensação de fragilidade tanto para os indivíduos quanto para as comunidades humanas, daí uma maior sensibilidade a temas de destruição, desintegração e aniquilação. Uma coisa me parece certa: não estamos vivenciando os sintomas do fim do mundo, mas o fim de um mundo. O mundo tradicional, milenar, que acabei de descrever, com todos os padrões de pensamento a ele associados, mas também o mundo ultraindividualista e consumista que o sucedeu, no qual ainda estamos imersos, que demonstra tantos sinais de exaustão e revela suas verdadeiras limitações para o progresso genuíno da humanidade e das sociedades. Bergson disse que precisaríamos de um "suplemento da alma" para enfrentar os novos desafios. De fato, podemos ver nesta profunda crise não apenas uma série de catástrofes ecológicas, econômicas e sociais previstas, mas também a oportunidade para um ressurgimento, uma renovação humanista e espiritual, por meio de um despertar da consciência e um senso mais aguçado de responsabilidade individual e coletiva. [...]
O Mundo das Religiões nº 49 – Setembro/Outubro de 2011 — O fortalecimento de fundamentalismos e comunalismos de todos os tipos é um dos principais efeitos do 11 de setembro. Essa tragédia, com suas repercussões globais, revelou e exacerbou a divisão entre o Islã e o Ocidente, assim como foi sintoma e acelerador de todos os temores ligados à globalização ultrarrápida das décadas anteriores e ao consequente choque de culturas. Mas essas tensões identitárias, que continuam a causar preocupação e a alimentar constantemente a cobertura da mídia (o massacre de Oslo em julho sendo um dos exemplos mais recentes), ofuscaram outra consequência totalmente oposta do 11 de setembro: a rejeição das religiões monoteístas justamente por causa do fanatismo que elas geram. Pesquisas de opinião recentes na Europa mostram que as religiões monoteístas são cada vez mais assustadoras para os nossos contemporâneos. As palavras "violência" e "regressão" são agora mais facilmente associadas a elas do que "paz" e "progresso". Uma consequência desse ressurgimento da identidade religiosa e do fanatismo que frequentemente o acompanha é um aumento acentuado do ateísmo. Embora o movimento seja disseminado no Ocidente, o fenômeno é mais marcante na França. Há o dobro de ateus em comparação com dez anos atrás, e a maioria dos franceses agora se identifica como ateia ou agnóstica. É claro que as causas desse aumento na descrença e na indiferença religiosa são mais profundas, e as analisamos neste relatório: o desenvolvimento do pensamento crítico e do individualismo, os estilos de vida urbanos e o declínio da transmissão religiosa, entre outros. Mas não há dúvida de que a violência religiosa contemporânea exacerba um fenômeno generalizado de distanciamento da religião, que é muito menos espetacular do que a loucura assassina dos fanáticos. Poderíamos usar o velho ditado: o som da árvore caindo abafa o som da floresta crescendo. Contudo, como nos preocupam com razão e ameaçam a paz mundial a curto prazo, concentramo-nos demasiado no ressurgimento do fundamentalismo e do comunalismo, esquecendo que a verdadeira transformação numa escala histórica de longo prazo é o profundo declínio, em todos os segmentos da população, da religião e da crença secular em Deus. Alguns dirão que este fenómeno é europeu e particularmente marcante em França. Certamente, mas continua a intensificar-se, e a tendência começa mesmo a espalhar-se à Costa Leste dos Estados Unidos. A França, depois de ter sido a filha primogénita da Igreja, poderá muito bem tornar-se a filha primogénita da indiferença religiosa. A Primavera Árabe demonstra também que a aspiração às liberdades individuais é universal e poderá ter como consequência final, tanto no mundo muçulmano como no mundo ocidental, a emancipação do indivíduo da religião e a "morte de Deus" profetizada por Nietzsche. Os guardiões do dogma compreenderam claramente isto, condenando constantemente os perigos do individualismo e do relativismo. Mas será possível suprimir uma necessidade humana tão fundamental como a liberdade de crer, de pensar, de escolher os próprios valores e o significado que se deseja dar à própria vida? A longo prazo, o futuro da religião parece-me residir não tanto na identidade coletiva e na submissão do indivíduo ao grupo, como ocorreu durante milênios, mas na busca e na responsabilidade espiritual pessoal. A fase de ateísmo e rejeição da religião na qual estamos cada vez mais imersos pode, certamente, levar ao consumismo desenfreado, à indiferença para com os outros e a novas formas de barbárie. Mas também pode ser o prelúdio para novas formas de espiritualidade, secular ou religiosa, verdadeiramente fundadas nos grandes valores universais aos quais todos aspiramos: verdade, liberdade e amor. Então Deus — ou melhor, todas as suas representações tradicionais — não terá morrido em vão. [...]
Le Monde des religions nº 48 – Julho/Agosto de 2011 — Enquanto o caso DSK continua a causar repercussão e a suscitar inúmeros debates e questionamentos, há uma lição que Sócrates transmitiu ao jovem Alcibíades sobre a qual devemos refletir: “Para pretender governar a cidade, é preciso aprender a governar a si mesmo”. Se Dominique Strauss-Kahn, até então o favorito nas sondagens, fosse considerado culpado de agressão sexual contra uma camareira no Sofitel de Nova Iorque, poderíamos não só ter pena da vítima, como também respirar aliviados. Pois se DSK, como alguns testemunhos em França também parecem sugerir, é um agressor sexual compulsivo capaz de brutalidade, poderíamos ter eleito para o cargo mais alto um homem doente (se não consegue controlar-se) ou um homem perverso (se se recusa a controlar-se). Dado o choque que a notícia da sua prisão provocou no nosso país, dificilmente ousamos imaginar o que teria acontecido se um caso semelhante tivesse vindo à tona um ano depois! A incredulidade atônita do povo francês, beirando a negação, decorre em grande parte das esperanças depositadas em DSK como um homem sério e responsável, capaz de governar e representar a França com dignidade no cenário mundial. Essa expectativa surgiu da decepção com Nicolas Sarkozy, duramente julgado pelas contradições entre seus grandes pronunciamentos sobre justiça social e moralidade e sua conduta pessoal, particularmente em relação ao dinheiro. As pessoas esperavam uma figura moralmente mais exemplar. A queda de DSK, seja qual for o resultado do julgamento, é ainda mais difícil de aceitar. Contudo, ela tem o mérito de trazer de volta ao debate público a questão da virtude na política. Pois, embora essa questão seja crucial nos Estados Unidos, ela é completamente ignorada na França, onde há uma tendência a separar completamente a vida privada da pública, a personalidade e a competência. Acredito que a abordagem correta se encontra entre esses dois extremos: moralismo em excesso nos Estados Unidos e pouca atenção à moralidade pessoal dos políticos na França. Para não cairmos na armadilha americana de "caçar" figuras públicas, devemos lembrar, como Sócrates disse a Alcibíades, que podemos duvidar da capacidade de governar de um homem escravizado por suas paixões. As mais altas responsabilidades exigem a aquisição de certas virtudes: autocontrole, prudência, respeito pela verdade e justiça. Como pode um homem que não adquiriu essas virtudes morais básicas colocá-las em prática no governo da cidade? Quando alguém se comporta mal no mais alto escalão do governo, como podemos esperar que todos ajam bem? Confúcio disse ao governante de Ji Kang, há dois mil e quinhentos anos: "Busque o bem você mesmo, e o povo melhorará. A virtude de um homem bom é como a do vento." "A virtude do povo é como a da grama, ela se curva na direção do vento" (Conversas, 12/19). Mesmo que a afirmação soe um pouco paternalista aos nossos ouvidos modernos, ela não deixa de ter verdade. [...]
Le Monde des religions, nº 47, maio-junho de 2011 — O vento da liberdade que sopra pelos países árabes nos últimos meses preocupa os governos ocidentais. Traumatizados pela Revolução Iraniana, apoiamos ditaduras durante décadas, alegando que eram um baluarte contra o islamismo. Pouco nos importávamos com a violação dos direitos humanos mais fundamentais, com a inexistência da liberdade de expressão, com a prisão de democratas, com uma pequena elite corrupta que saqueava todos os recursos do país em benefício próprio… Podíamos dormir tranquilos: esses ditadores dóceis nos protegiam da potencial tomada de poder por islamistas incontroláveis. O que vemos hoje é que essas pessoas estão se levantando porque aspiram, como nós, a dois valores que sustentam a dignidade humana: justiça e liberdade. Essas revoltas não foram iniciadas por ideólogos barbudos, mas por jovens desempregados e desesperados, homens e mulheres instruídos e indignados, e cidadãos de todas as classes sociais exigindo o fim da opressão e da injustiça. Essas são pessoas que querem viver livremente, que os recursos sejam compartilhados e distribuídos de forma mais equitativa, e que exista justiça e uma imprensa independente. Essas pessoas, que pensávamos que só poderiam sobreviver sob o punho de ferro de um bom ditador, estão agora nos dando uma lição exemplar de democracia. Esperemos que o caos ou uma repressão violenta não extingam as chamas da liberdade. E como podemos fingir esquecer que, dois séculos atrás, tivemos nossas revoluções pelos mesmos motivos? Certamente, o islamismo político é um veneno. Do assassinato de cristãos coptas no Egito ao do governador do Punjab, no Paquistão, que era a favor da revisão da lei da blasfêmia, eles semeiam o terror implacavelmente em nome de Deus, e devemos lutar com todas as nossas forças contra a propagação desse mal. Mas certamente não o deteremos apoiando ditaduras implacáveis; muito pelo contrário. Sabemos que o islamismo se alimenta do ódio ao Ocidente, e grande parte desse ódio provém precisamente do duplo padrão que constantemente empregamos em nome da realpolitik: sim aos grandes princípios democráticos, não à sua aplicação em países muçulmanos para melhor controlá-los. Eu acrescentaria que esse temor de uma tomada de poder islâmica me parece cada vez mais improvável. Não apenas porque os líderes das atuais revoltas na Tunísia, Egito e Argélia estão muito distantes dos círculos islamistas, mas também porque, mesmo que os partidos islamistas devam desempenhar um papel significativo no futuro processo democrático, eles têm pouquíssimas chances de conquistar a maioria. E mesmo que conseguissem, como na Turquia em meados da década de 1990, não há garantia de que a população permitiria a imposição da lei islâmica e os isentaria do escrutínio eleitoral. Povos que tentam se livrar de ditaduras de longa data têm pouco desejo de voltar ao jugo de novos déspotas que os privariam de uma liberdade tão desejada e conquistada com tanto esforço. Os povos árabes observaram atentamente a experiência iraniana e estão perfeitamente cientes da tirania que os aiatolás e mulás exercem sobre toda a sociedade. Não é num momento em que os iranianos buscam escapar do cruel experimento do regime teocrático que seus vizinhos cogitariam tal coisa. Portanto, deixemos de lado nossos medos e mesquinhos cálculos políticos para apoiar com entusiasmo e de todo o coração o povo que se levanta contra seus tiranos [...]
Le Monde des religions nº 44, novembro-dezembro de 2010 — O enorme sucesso do filme Homens e Deuses, de Xavier Beauvois, me enche de profunda alegria. Esse entusiasmo é certamente surpreendente, e gostaria de explicar aqui por que este filme me comoveu e por que acredito que tenha comovido tantos espectadores. Sua primeira qualidade reside na contenção e no ritmo lento. Sem grandes discursos, pouca música, planos longos em que a câmera se detém em rostos e gestos, em vez de uma série de tomadas rápidas e alternadas como em um trailer. Em um mundo agitado e barulhento, onde tudo se move rápido demais, este filme nos permite mergulhar por duas horas em uma temporalidade diferente que leva à introspecção. Alguns podem não achar isso e podem se sentir um pouco entediados, mas a maioria dos espectadores vivencia uma jornada interior profundamente enriquecedora. Pois os monges de Tibhirine, interpretados por atores admiráveis, nos atraem para sua fé e suas dúvidas. E este é o segundo grande trunfo do filme: longe de qualquer abordagem maniqueísta, ele nos mostra as hesitações dos monges, suas forças e fraquezas. Filmando com notável realismo, e com o apoio perfeito do monge Henri Quinson, Xavier Beauvois pinta um retrato de homens que são a antítese dos super-heróis de Hollywood, atormentados e serenos, ansiosos e confiantes, questionando constantemente a sabedoria de permanecer em um lugar onde correm o risco de serem assassinados a qualquer momento. Esses monges, que vivem vidas tão diferentes das nossas, tornam-se próximos de nós. Somos tocados, crentes ou não, por sua fé inabalável e seus medos; compreendemos suas dúvidas, sentimos seu apego a este lugar e aos moradores locais. Essa lealdade aos aldeões entre os quais vivem, que será, em última análise, a principal razão para sua recusa em partir e, portanto, para seu trágico fim, constitui, sem dúvida, o terceiro trunfo do filme. Porque essas figuras religiosas católicas escolheram viver em um país muçulmano que amam profundamente e mantêm uma relação de confiança e amizade com a população local, demonstrando que o choque de civilizações não é de modo algum inevitável. Quando as pessoas se conhecem, quando vivem juntas, os medos e preconceitos desaparecem, e cada um pode viver sua fé respeitando a do outro. É isso que o prior do mosteiro, Padre Christian de Chergé, expressa comoventemente em seu testamento espiritual, lido em voz off por Lambert Wilson no final do filme, quando os monges são sequestrados e enviados para seu trágico destino: “Se um dia — e poderia ser hoje — eu me tornasse vítima do terrorismo que agora parece ter como alvo todos os estrangeiros que vivem na Argélia, gostaria que minha comunidade, minha Igreja, minha família se lembrassem de que minha vida foi entregue a Deus e a este país”. Vivi o suficiente para me reconhecer como cúmplice do mal que, infelizmente, parece prevalecer no mundo, e até mesmo daquele que pode me atingir cegamente. Gostaria, quando chegar a hora, de ter aquele momento de lucidez que me permitisse pedir perdão a Deus e aos meus semelhantes, perdoando também de todo o coração qualquer pessoa que me tenha feito mal. A história desses monges, mais do que um testemunho de fé, é uma verdadeira lição de humanidade. Link para o vídeo Salvar [...]
Le Monde des religions nº 43, setembro-outubro de 2010 — Em seu mais recente ensaio*, Jean-Pierre Denis, editor-chefe do semanário cristão La Vie, mostra como, nas últimas décadas, a contracultura libertária que emergiu de Maio de 68 tornou-se a cultura dominante, enquanto o cristianismo se tornou uma contracultura periférica. A análise é perspicaz e o autor argumenta eloquentemente em favor de um "cristianismo de objeção" que não é nem conquistador nem defensivo. A leitura desta obra inspira algumas reflexões, a começar por uma pergunta que soará, no mínimo, provocativa para muitos leitores: o nosso mundo já foi cristão alguma vez? Que tenha existido uma cultura dita "cristã", marcada pelas crenças, símbolos e rituais da religião cristã, é inegável. Que essa cultura tenha permeado profundamente a nossa civilização, a ponto de mesmo as sociedades secularizadas permanecerem impregnadas de uma herança cristã onipresente — calendário, feriados, edifícios, patrimônio artístico, expressões populares, etc. — é inegável. Mas o que os historiadores chamam de "Cristandade", esse período de mil anos que se estende do fim da Antiguidade ao Renascimento, marcando a convergência da religião cristã e das sociedades europeias, foi realmente cristão em seu sentido mais profundo, ou seja, fiel à mensagem de Cristo? Para Søren Kierkegaard, um fervoroso e atormentado pensador cristão, "toda a Cristandade nada mais é do que o esforço da humanidade para se reerguer, para se livrar do cristianismo". O que o filósofo dinamarquês enfatiza acertadamente é que a mensagem de Jesus é totalmente subversiva em relação à moralidade, ao poder e à religião, uma vez que coloca o amor e a impotência acima de tudo. Tanto que os cristãos rapidamente a adaptaram para melhor se adequar à mente humana, reformulando-a dentro de uma estrutura de pensamento e práticas religiosas tradicionais. O nascimento dessa "religião cristã" e sua incrível distorção a partir do século IV, em sua fusão com o poder político, muitas vezes se opõe diametralmente à mensagem que a inspira. A Igreja é necessária como uma comunidade de discípulos cuja missão é transmitir a memória de Jesus e sua presença através do único sacramento que ele instituiu (a Eucaristia), difundir sua palavra e, sobretudo, testemunhá-la. Mas como reconhecer a mensagem do Evangelho no direito canônico, na pompa do decoro, no moralismo estreito, na hierarquia eclesiástica piramidal, na proliferação de sacramentos, na sangrenta luta contra as heresias e no domínio do clero sobre a sociedade, com todos os abusos que isso acarreta? O cristianismo é a sublime beleza das catedrais, mas também é tudo isso. Reconhecendo o fim da nossa civilização cristã, um dos padres do Concílio Vaticano II exclamou: “A cristandade está morta, viva o cristianismo!”. Paul Ricoeur, que me contou essa anedota alguns anos antes de sua morte, acrescentou: “Eu diria antes: A cristandade está morta, viva o Evangelho!, já que nunca houve uma sociedade autenticamente cristã”. Em última análise, o declínio da religião cristã não representa uma oportunidade para que a mensagem de Cristo seja ouvida novamente? “Não se pode pôr vinho novo em odres velhos”, disse Jesus. A profunda crise das igrejas cristãs é talvez o prelúdio para um novo renascimento da fé viva dos Evangelhos. Uma fé que, por se referir ao amor ao próximo como sinal do amor de Deus, não deixa de ter uma forte afinidade com o humanismo secular dos direitos humanos que constitui o fundamento dos nossos valores modernos. E uma fé que será também uma força de resistência feroz contra os impulsos materialistas e mercantis de um mundo cada vez mais desumanizado. Uma nova face do cristianismo pode, portanto, emergir das ruínas da nossa “civilização cristã”, pela qual os crentes ligados ao Evangelho, mais do que à cultura e à tradição cristãs, não sentirão nostalgia. * Por que o cristianismo causa escândalo (Seuil, 2010). http://www.youtube.com/watch?v=fELBzF4iSg4 [...]
Le Monde des religions nº 42, julho-agosto de 2010 — A persistência das crenças e práticas astrológicas em todas as culturas do mundo é surpreendente, especialmente para um cético. Desde as primeiras civilizações da China e da Mesopotâmia, não há grande área cultural que não tenha visto o florescimento da crença astrológica. E embora se pensasse que estivesse moribunda no Ocidente desde o século XVII e o surgimento da astronomia científica, parece ter ressurgido das cinzas nas últimas décadas em duas formas: popular (horóscopos de jornal) e cultivada — a psicoastrologia do mapa astral, que Edgar Morin não hesita em definir como uma espécie de "nova ciência do assunto". Nas civilizações antigas, astronomia e astrologia estavam interligadas: a observação rigorosa da abóbada celeste (astronomia) possibilitava prever eventos que ocorriam na Terra (astrologia). Essa correlação entre eventos celestes (eclipses, conjunções planetárias, cometas) e eventos terrestres (fome, guerra, morte de um rei) está no próprio fundamento da astrologia. Embora baseada em milênios de observações, a astrologia não é uma ciência no sentido moderno do termo, visto que seus fundamentos são incomprováveis e sua prática está sujeita a inúmeras interpretações. Trata-se, portanto, de um conhecimento simbólico, baseado na crença de que existe uma misteriosa correlação entre o macrocosmo (o cosmos) e o microcosmo (a sociedade, o indivíduo). Na antiguidade, seu sucesso derivava da necessidade dos impérios de discernir e prever o futuro, baseando-se em uma ordem superior, o cosmos. Interpretar os sinais do céu permitia compreender os avisos enviados pelos deuses. De uma perspectiva política e religiosa, a astrologia evoluiu ao longo dos séculos em direção a uma interpretação mais individualizada e secular. Em Roma, no início da nossa era, as pessoas consultavam um astrólogo para determinar a adequação de um determinado procedimento médico ou projeto de carreira. O ressurgimento moderno da astrologia revela uma necessidade crescente de autoconhecimento por meio de uma ferramenta simbólica, o mapa astral, que se acredita revelar o caráter do indivíduo e os contornos gerais de seu destino. A crença religiosa original é descartada, mas não a crença no destino, visto que o indivíduo supostamente nasce em um momento preciso em que a abóbada celeste manifesta seu potencial. Essa lei da correspondência universal, que conecta o cosmos à humanidade, é também o próprio fundamento do que se chama esoterismo, uma corrente religiosa multifacetada paralela às grandes religiões, que no Ocidente tem suas raízes no estoicismo (a alma do mundo), no neoplatonismo e no hermetismo antigo. A necessidade moderna de conexão com o cosmos contribui para esse desejo de um "reencantamento do mundo", típico da pós-modernidade. Quando a astronomia e a astrologia se separaram no século XVII, a maioria dos pensadores estava convencida de que a crença astrológica desapareceria para sempre, reduzida a meras crendices populares. Uma voz dissidente surgiu: a de Johannes Kepler, um dos pais fundadores da astronomia moderna, que continuou a elaborar mapas astrológicos, explicando que não se deve buscar uma explicação racional para a astrologia, mas simplesmente reconhecer sua eficácia prática. Hoje, é evidente que a astrologia não só está vivenciando um ressurgimento no Ocidente, como continua a ser praticada na maioria das sociedades asiáticas, atendendo assim a uma necessidade tão antiga quanto a própria humanidade: encontrar significado e ordem em um mundo tão imprevisível e aparentemente caótico. Estendo meus sinceros agradecimentos aos nossos amigos Emmanuel Leroy Ladurie e Michel Cazenave por tudo o que contribuíram com suas colunas em nosso jornal ao longo dos anos. Eles passam o bastão para Rémi Brague e Alexandre Jollien, a quem temos o prazer de receber. http://www.youtube.com/watch?v=Yo3UMgqFmDs&feature=player_embedded [...]
Le Monde des religions, nº 41, maio-junho de 2010 — Por ser fundamental para toda a existência humana, a questão da felicidade está no cerne das grandes tradições filosóficas e religiosas da humanidade. Seu ressurgimento em nossas sociedades ocidentais no início do século XXI decorre do colapso das grandes ideologias e utopias políticas que buscavam trazer felicidade à humanidade. O capitalismo puro e simples fracassou tanto quanto o comunismo ou o nacionalismo como sistema coletivo de significado. O que resta, então, são as buscas pessoais, que permitem aos indivíduos tentar levar uma vida feliz. Daí o renovado interesse pelas filosofias antigas e orientais, bem como o desenvolvimento, dentro das religiões monoteístas, de movimentos, como o movimento evangélico no mundo cristão, que enfatizam a felicidade terrena, e não mais exclusivamente na vida após a morte. Ao ler os diversos pontos de vista expressos nesta coletânea pelos grandes sábios e mestres espirituais da humanidade, percebe-se uma tensão persistente, que transcende a diversidade cultural, entre duas concepções de felicidade. Por um lado, a felicidade é buscada como um estado estável, definitivo e absoluto. Este é o Paraíso prometido na vida após a morte, do qual se pode ter um vislumbre aqui na Terra, levando uma vida santa. Esta é também a busca dos sábios budistas e estoicos, que visam alcançar a felicidade duradoura aqui e agora, para além de todo o sofrimento deste mundo. O paradoxo de tal busca reside no fato de que ela é teoricamente acessível a todos, mas exige um ascetismo e uma renúncia aos prazeres comuns que pouquíssimos indivíduos estão dispostos a abraçar. No outro extremo, a felicidade é apresentada como aleatória, necessariamente provisória e, em suma, bastante injusta, uma vez que depende muito do caráter de cada indivíduo: como nos lembra Schopenhauer, seguindo Aristóteles, a felicidade reside na realização do nosso potencial, e existe, de fato, uma desigualdade radical no temperamento de cada pessoa. A felicidade, como sugere a sua etimologia, deve-se, portanto, à sorte: "boa fortuna". E a palavra grega eudaimonia refere-se a ter um bom daimon. Mas, para além dessa diversidade de pontos de vista, algo ressoa em muitos sábios de todas as escolas de pensamento, com o qual concordo plenamente: a felicidade reside, primordialmente, em um amor saudável por si mesmo e pela vida. Uma vida que se aceita como ela é, com sua parcela de alegria e tristeza, tentando afastar a infelicidade o máximo possível, mas sem a fantasia avassaladora da felicidade absoluta. Uma vida que amamos começa com a aceitação e o amor por nós mesmos como somos, em uma "amizade" conosco mesmos, como defendia Montaigne. Uma vida que deve ser encarada com flexibilidade, acompanhando seu movimento constante, como a respiração, como nos lembra a sabedoria chinesa. A melhor maneira de ser o mais feliz possível é dizer "sim" à vida. Assista ao vídeo: Salvar Salvar Salvar Salvar [...]
Le Monde des religions, n.º 40, março-abril de 2010 — A decisão de Bento XVI de prosseguir com o processo de beatificação do Papa Pio XII gerou ampla controvérsia, dividindo os mundos judaico e cristão. O presidente da comunidade rabínica de Roma boicotou a visita do Papa à Grande Sinagoga de Roma em protesto contra a atitude "passiva" de Pio XII em relação à tragédia do Holocausto. Bento XVI justificou mais uma vez a decisão de canonizar seu antecessor, argumentando que não poderia condenar mais abertamente as atrocidades cometidas pelo regime nazista sem correr o risco de represálias contra os católicos, dos quais os muitos judeus escondidos em conventos teriam sido as primeiras vítimas. O argumento é perfeitamente válido. O historiador Léon Poliakov já havia enfatizado esse ponto em 1951, na primeira edição de *O Breviário do Ódio: O Terceiro Reich e os Judeus*: “É doloroso constatar que, durante toda a guerra, enquanto as fábricas da morte operavam a todo vapor, o papado permaneceu em silêncio. Deve-se reconhecer, no entanto, que, como a experiência demonstrou em nível local, protestos públicos podiam ser imediatamente seguidos por sanções implacáveis”. Pio XII, um diplomata habilidoso, tentou conciliar duas posições: apoiou secretamente os judeus, salvando diretamente a vida de milhares de judeus romanos após a ocupação alemã do norte da Itália, enquanto simultaneamente evitava uma condenação direta do Holocausto, para não romper todo o diálogo com o regime nazista e prevenir uma reação brutal. Essa postura pode ser descrita como responsável, racional, prudente, até mesmo sábia. Mas não é profética e não reflete as ações de um santo. Jesus morreu na cruz por ter permanecido fiel até o fim à sua mensagem de amor e verdade. Seguindo seus passos, os apóstolos Pedro e Paulo deram suas vidas porque não renunciaram à proclamação da mensagem de Cristo nem a adaptaram às circunstâncias por "razões diplomáticas". Imagine se eles tivessem sido papas em vez de Pio XII? É difícil imaginá-los fazendo concessões ao regime nazista, mas sim escolhendo morrer deportados com aqueles milhões de inocentes. Esse é o ato de santidade, de significado profético, que, em circunstâncias históricas tão trágicas, se poderia esperar do sucessor de Pedro. Um papa que dá a vida e diz a Hitler: "Prefiro morrer com meus irmãos judeus a tolerar essa abominação". Certamente, as represálias teriam sido terríveis para os católicos, mas a Igreja teria enviado uma mensagem de poder sem precedentes para o mundo inteiro. Os primeiros cristãos foram santos porque colocaram sua fé e o amor ao próximo acima de suas próprias vidas. Pio XII será canonizado porque foi um homem piedoso, um bom administrador da Cúria Romana e um diplomata habilidoso. Isso ilustra a diferença fundamental entre a Igreja dos Mártires e a Igreja pós-constantiniana, mais preocupada em preservar sua influência política do que em testemunhar o Evangelho [...]
Le Monde des religions, nº 39, janeiro-fevereiro de 2010 — Quase quatro séculos após a condenação de Galileu, o debate público sobre o tema da ciência e da religião ainda parece polarizado em dois extremos. De um lado, o fervor criacionista, que busca negar certas descobertas científicas inegáveis em nome de uma interpretação fundamentalista da Bíblia. Do outro, a atenção midiática dada a obras de certos cientistas, como Richard Dawkins (Deus, um Delírio, Robert Laffont, 2008), que pretendem provar a inexistência de Deus usando argumentos científicos. Contudo, essas posições são bastante marginais em ambos os lados. No Ocidente, uma grande maioria dos crentes aceita a legitimidade da ciência, e a maioria dos cientistas sustenta que a ciência jamais será capaz de provar a existência ou a inexistência de Deus. Em última análise, e parafraseando o próprio Galileu, aceita-se que ciência e religião abordam duas questões radicalmente diferentes, que não podem estar em conflito: "A intenção do Espírito Santo é nos ensinar como ir para o céu, não como o céu funciona". No século XVIII, Kant reiterou a distinção entre fé e razão, e a impossibilidade de a razão pura responder à questão da existência de Deus. Nascido na segunda metade do século XIX, o cientificismo tornou-se, contudo, uma verdadeira "religião da razão", proclamando repetidamente a morte de Deus graças às vitórias da ciência. Richard Dawkins é uma de suas encarnações mais recentes. O criacionismo também surgiu na segunda metade do século XIX, como uma reação à teoria da evolução de Darwin. Sua versão bíblica fundamentalista foi sucedida por uma versão muito mais moderada, que aceita a teoria da evolução, mas busca provar a existência de Deus por meio da ciência, através da teoria do design inteligente. Essa tese é mais facilmente aceita, mas incorre novamente na armadilha de confundir abordagens científicas e religiosas. Se aceitarmos essa distinção entre formas de conhecimento, que me parece um princípio fundamental do pensamento filosófico, devemos então afirmar que nenhum diálogo é possível entre ciência e religião? E, de forma mais ampla, entre uma visão científica e uma concepção espiritual da humanidade e do mundo? O dossiê desta edição dá voz a cientistas de renome internacional que defendem esse diálogo. De fato, não são tanto figuras religiosas, mas sim cientistas, que vêm cada vez mais propondo um novo diálogo entre ciência e espiritualidade. Isso se deve, em grande parte, à própria evolução da ciência ao longo do último século. Começando pelo estudo do infinitamente pequeno (o mundo subatômico), as teorias da mecânica quântica demonstraram que a realidade material é muito mais complexa, profunda e misteriosa do que se poderia imaginar segundo os modelos da física clássica herdados de Newton. No outro extremo, o do infinitamente grande, as descobertas da astrofísica sobre as origens do universo, e em particular a teoria do Big Bang, varreram as teorias de um universo eterno e estático, nas quais muitos cientistas se baseavam para afirmar a impossibilidade de um princípio criador. Em menor grau, a pesquisa sobre a evolução da vida e da consciência tende agora a qualificar as visões cientificistas do "acaso que explica tudo" e do "homem neuronal". Na primeira parte deste dossiê, cientistas compartilham tanto os fatos — o que mudou na ciência ao longo do último século — quanto suas próprias opiniões filosóficas: por que ciência e espiritualidade podem dialogar de forma frutífera, respeitando seus respectivos métodos. Indo além, outros pesquisadores, incluindo dois laureados com o Prêmio Nobel, oferecem seus próprios testemunhos como cientistas e crentes, explicando por que acreditam que ciência e religião, longe de serem opostas, tendem a convergir. A terceira parte deste dossiê dá a palavra aos filósofos: o que eles pensam desse novo paradigma científico e do discurso desses pesquisadores que defendem um novo diálogo, ou mesmo uma convergência, entre ciência e espiritualidade? Quais são as perspectivas e limitações metodológicas de tal diálogo? Além de polêmicas estéreis e emocionais, ou, inversamente, comparações superficiais, essas são questões e debates que parecem essenciais para uma melhor compreensão do mundo e de nós mesmos [...]
O Mundo das Religiões, novembro-dezembro de 2009 — As religiões inspiram medo. Hoje, a dimensão religiosa está presente, em graus variados, na maioria dos conflitos armados. Mesmo sem mencionar a guerra, as controvérsias em torno de questões religiosas estão entre as mais violentas nos países ocidentais. Certamente, a religião divide as pessoas mais do que as une. Por quê? Desde seus primórdios, a religião possui uma dupla dimensão de conexão. Verticalmente, ela cria um vínculo entre as pessoas e um princípio superior, qualquer que seja o nome que lhe demos: espírito, deus, o Absoluto. Esta é a sua dimensão mística. Horizontalmente, ela reúne seres humanos que se sentem unidos por essa crença compartilhada nessa transcendência invisível. Esta é a sua dimensão política. Isso é bem expresso pela etimologia latina da palavra "religião": religere, "ligar". Um grupo humano é unido por crenças compartilhadas, e essas crenças são ainda mais fortes, como Régis Debray tão apropriadamente explicou, porque se referem a uma entidade ausente, a uma força invisível. Assim, a religião assume uma dimensão proeminente na formação da identidade: cada indivíduo sente um senso de pertencimento a um grupo por meio dessa dimensão religiosa, que também constitui uma parte significativa de sua identidade pessoal. Tudo está bem quando todos os indivíduos compartilham as mesmas crenças. A violência começa quando alguns indivíduos se desviam da norma comum: essa é a eterna perseguição de "hereges" e "infiéis", que ameaçam a coesão social do grupo. A violência também é exercida, é claro, fora da comunidade, contra outras cidades, grupos ou nações que professam crenças diferentes. E mesmo quando o poder político é separado do poder religioso, a religião é frequentemente instrumentalizada por políticos devido ao seu poder de mobilização para moldar a identidade. Lembramos de Saddam Hussein, um descrente e líder de um Estado laico, convocando a jihad contra os "cruzados judeus e cristãos" durante as duas Guerras do Golfo. Nossa investigação em assentamentos israelenses fornece outro exemplo. Em um mundo em rápida globalização, alimentando o medo e a rejeição, a religião está vivenciando um ressurgimento da política identitária em todos os lugares. As pessoas temem o outro, retraem-se para si mesmas e para as suas raízes culturais, e alimentam a intolerância. No entanto, existe uma abordagem completamente diferente para os crentes: manterem-se fiéis às suas raízes, ao mesmo tempo que se mostram abertos e engajados no diálogo com os outros, respeitando as suas diferenças. Recusarem-se a permitir que a religião seja usada por políticos para fins beligerantes. Retornarem aos princípios fundamentais de cada religião, que promovem valores como o respeito pelo próximo, a paz e o acolhimento do estrangeiro. Vivenciarem a religião na sua dimensão espiritual, e não na sua dimensão identitária. Ao recorrerem a esta herança comum de valores espirituais e humanistas, em vez da diversidade de culturas e dogmas que as dividem, as religiões podem desempenhar um papel pacificador à escala global. Ainda estamos longe disso, mas muitos indivíduos e grupos estão a trabalhar nessa direção: vale a pena recordar isso. Se, parafraseando Péguy, "tudo começa no misticismo e termina na política", não é impossível para os crentes trabalharem na construção de um espaço político global pacífico, alicerçado na base mística comum das religiões: a primazia do amor, da misericórdia e do perdão. Ou seja, trabalhar para a construção de um mundo fraterno. As religiões, portanto, não me parecem constituir um obstáculo intransponível a tal projeto, que se alinha ao dos humanistas, sejam eles crentes, ateus ou agnósticos. [...]
Le Monde des religions, setembro-outubro de 2009 — A França tem a maior população muçulmana da Europa. No entanto, o rápido crescimento do Islã na terra de Pascal e Descartes nas últimas décadas tem suscitado receios e questionamentos. Nem sequer mencionemos a retórica fantasiosa da extrema-direita, que tenta explorar esses temores profetizando uma convulsão na sociedade francesa sob a "pressão de uma religião destinada a tornar-se maioritária". Mais seriamente, algumas preocupações são inteiramente legítimas: como conciliar a nossa tradição laica, que relega a religião à esfera privada, com as novas exigências religiosas específicas das escolas, hospitais e espaços públicos? Como conciliar a nossa visão de uma mulher emancipada com a ascensão de uma religião com fortes símbolos de identidade, como o infame véu islâmico — para não mencionar o véu integral —, que evocam para nós a submissão da mulher ao poder masculino? Existe, de facto, um choque cultural e um conflito de valores que seria perigoso negar. Mas questionar ou expressar críticas não significa perpetuar preconceitos ou estigmatizar os outros numa postura defensiva motivada pelo medo do outro e da sua diferença. É por isso que o Le Monde des Religions dedicou uma reportagem especial de 36 páginas aos muçulmanos franceses e à questão do Islã na França. Essa questão é uma realidade concreta há dois séculos, desde a chegada dos primeiros imigrantes, e está enraizada no nosso imaginário coletivo há mais de doze séculos, com as guerras contra os sarracenos e a famosa Batalha de Poitiers. Portanto, é essencial analisar a questão sob uma perspectiva histórica para melhor compreender os medos, preconceitos e juízos de valor que temos sobre a religião de Maomé (e não "Maomé", como escrevem os meios de comunicação, desconhecendo que este é um nome turco para o Profeta, herdado da luta contra o Império Otomano). Em seguida, procurámos explorar o vasto leque de muçulmanos franceses através de reportagens sobre cinco grandes grupos, muito diversos (e não mutuamente exclusivos): antigos imigrantes argelinos que vieram trabalhar em França a partir de 1945; Jovens muçulmanos franceses que priorizam sua identidade religiosa; aqueles que, embora abracem uma identidade muçulmana, buscam primeiro submetê-la ao raciocínio crítico e aos valores humanistas herdados do Iluminismo; aqueles que se distanciaram do Islã como religião; e, finalmente, aqueles que pertencem ao movimento fundamentalista salafista. Esse mosaico de identidades revela a extrema complexidade de uma questão altamente emocional e politicamente sensível, a ponto de as autoridades públicas se recusarem a utilizar afiliações religiosas e étnicas em censos, o que, no entanto, permitiria uma melhor compreensão dos muçulmanos franceses e de seus números. Portanto, pareceu-nos útil concluir esta série com artigos que analisam a relação entre o Islã e a República, ou a questão da "islamofobia", e dar voz a diversos acadêmicos com uma perspectiva mais distanciada. O Islã é a segunda maior religião do mundo em número de adeptos, depois do Cristianismo. É também a segunda maior religião na França, muito atrás do Catolicismo, mas muito à frente do Protestantismo, do Judaísmo e do Budismo. Independentemente da opinião que se tenha sobre essa religião, esse é um fato. Um dos maiores desafios que nossa sociedade enfrenta é trabalhar para a melhor integração possível do Islã com as tradições culturais e políticas francesas. Isso não pode ser alcançado, tanto para muçulmanos quanto para não muçulmanos, em uma atmosfera de ignorância, desconfiança ou agressão [...]
Le Monde des religions, julho-agosto de 2009 — Estamos mergulhados numa crise econômica de magnitude sem precedentes, que deveria questionar nosso modelo de desenvolvimento, baseado no crescimento perpétuo da produção e do consumo. A palavra "crise", em grego, significa "decisão", "julgamento" e se refere à ideia de um momento crucial em que "uma decisão precisa ser tomada". Estamos atravessando um período decisivo em que escolhas fundamentais precisam ser feitas, caso contrário, a situação só irá piorar, talvez ciclicamente, mas certamente. Como Jacques Attali e André Comte-Sponville nos lembram no fascinante diálogo que nos concederam, essas escolhas devem ser políticas, a começar por uma necessária revisão e uma regulação mais eficaz e justa do sistema financeiro aberrante em que vivemos hoje. Elas também podem afetar mais diretamente todos os cidadãos, por meio de um redirecionamento da demanda para a compra de bens mais ecológicos e socialmente responsáveis. Uma recuperação duradoura da crise certamente dependerá de um compromisso genuíno com a mudança das regras do jogo financeiro e de nossos hábitos de consumo. Mas isso provavelmente não será suficiente. São os nossos estilos de vida, baseados no crescimento constante do consumo, que precisam mudar. Desde a Revolução Industrial, e ainda mais desde a década de 1960, vivemos em uma civilização que faz do consumo a força motriz do progresso. Este não é apenas um fator econômico, mas também ideológico: progresso significa possuir mais. A publicidade, onipresente em nossas vidas, simplesmente reforça essa crença em todas as suas formas. Podemos ser felizes sem o carro mais recente? O mais novo aparelho de DVD ou celular? Uma televisão e um computador em cada cômodo? Essa ideologia quase nunca é questionada: enquanto for possível, por que não? E a maioria das pessoas ao redor do mundo agora se volta para esse modelo ocidental, que faz da posse, da acumulação e da troca constante de bens materiais o sentido último da existência. Quando esse modelo ruir, quando o sistema descarrilar; quando ficar claro que provavelmente não podemos continuar consumindo indefinidamente nesse ritmo frenético, que os recursos do planeta são limitados e que o compartilhamento se torna urgente; então poderemos finalmente fazer as perguntas certas. Podemos questionar o significado da economia, o valor do dinheiro e as verdadeiras condições para o equilíbrio de uma sociedade e a felicidade individual. Nesse sentido, acredito que a crise pode e deve ter um impacto positivo. Ela pode nos ajudar a reconstruir nossa civilização, que se tornou global pela primeira vez, com base em critérios que não sejam o dinheiro e o consumo. Esta crise não é apenas econômica e financeira, mas também filosófica e espiritual. Ela levanta questões universais: o que pode ser considerado verdadeiro progresso? Podem os seres humanos ser felizes e viver em harmonia uns com os outros em uma civilização inteiramente construída em torno de um ideal de posse? Provavelmente não. O dinheiro e a aquisição de bens materiais são meros meios, por mais valiosos que sejam, mas nunca um fim em si mesmos. O desejo de posse é, por natureza, insaciável. E gera frustração e violência. Os seres humanos são tais que constantemente desejam possuir o que não têm, mesmo que isso signifique tomá-lo à força do seu próximo. Contudo, uma vez satisfeitas as suas necessidades materiais essenciais — alimentação, abrigo e um padrão de vida decente —, as pessoas precisam adotar uma lógica diferente da do "ter" para se sentirem satisfeitas e se tornarem plenamente humanas: a lógica do ser. Devem aprender a conhecer e controlar-se, a compreender o mundo à sua volta e a respeitá-lo. Devem descobrir como amar, como conviver com os outros, como gerir as suas frustrações, alcançar a serenidade, superar o sofrimento inevitável da vida, mas também preparar-se para morrer de olhos abertos. Pois, enquanto a existência é um facto, viver é uma arte. Uma arte que se aprende, questionando os sábios e trabalhando em si mesmo. [...]
Le Monde des religions, maio-junho de 2009 — A excomunhão proferida pelo Arcebispo do Recife contra a mãe e a equipe médica que realizaram o aborto da menina brasileira de nove anos, que havia sido estuprada e estava grávida de gêmeos, provocou indignação no mundo católico. Muitos fiéis, padres e até bispos expressaram sua revolta contra essa medida disciplinar, que consideram excessiva e inadequada. Eu também reagi fortemente, destacando a flagrante contradição entre essa condenação brutal e dogmática e a mensagem do Evangelho, que prega a misericórdia, a compaixão pelo próximo e a transcendência da lei pelo amor. Passada a comoção inicial, parece importante revisitar este caso, não para alimentar ainda mais a indignação, mas para tentar analisar, com perspectiva, o problema fundamental que ele revela para a Igreja Católica. Diante da indignação pública com essa decisão, a Conferência Episcopal Brasileira tentou minimizar a excomunhão e isentar a mãe da menina, alegando que ela havia sido influenciada pela equipe médica. No entanto, o Cardeal Batista Re, Prefeito da Congregação para os Bispos, foi muito mais claro, explicando que o Arcebispo de Recife estava simplesmente reiterando o direito canônico. Essa lei estipula que qualquer pessoa que realize um aborto é automaticamente excluída da comunhão com a Igreja: "Quem provocar um aborto, se o efeito se seguir, incorre em excomunhão latae sententiae" (Cânon 1398). Ninguém precisa excomungá-lo oficialmente: ele se excomungou por seu ato. Certamente, o Arcebispo de Recife poderia ter evitado atiçar ainda mais a polêmica invocando o direito canônico em voz alta, provocando assim uma controvérsia global, mas isso não resolve o problema fundamental que indignou tantos fiéis: como pode uma lei cristã — que, além disso, não considera o estupro um ato suficientemente grave para justificar a excomunhão — condenar pessoas que tentam salvar a vida de uma jovem estuprada, fazendo-a abortar? É normal que uma religião tenha regras, princípios e valores, e que se esforce para defendê-los. Neste caso, é compreensível que o catolicismo, como todas as religiões, se oponha ao aborto. Mas será que essa proibição deveria ser consagrada em uma lei imutável que prevê medidas disciplinares automáticas, desconsiderando a diversidade de casos individuais? Nesse aspecto, a Igreja Católica difere de outras religiões e denominações cristãs, que não possuem um equivalente ao direito canônico, herdado do direito romano, e suas medidas disciplinares. Elas condenam certos atos em princípio, mas também sabem se adaptar a cada situação particular e consideram que transgredir a norma, por vezes, constitui um "mal menor". Isso fica evidente no caso dessa jovem brasileira. O padre Pierre disse o mesmo sobre a AIDS: é melhor combater o risco de transmissão da doença pela castidade e fidelidade, mas para aqueles que não conseguem, é melhor usar preservativo do que transmitir a morte. E é preciso lembrar, como já fizeram vários bispos franceses, que os pastores da Igreja praticam diariamente essa teologia do "mal menor", adaptando-se a cada caso específico e acompanhando com misericórdia os que estão em dificuldade, o que muitas vezes os leva a flexibilizar as regras. Ao fazerem isso, estão simplesmente colocando em prática a mensagem do Evangelho: Jesus condena o adultério em si, mas não a mulher flagrada em adultério, a quem os fanáticos da lei religiosa querem apedrejar, e a quem ele diz esta afirmação inequívoca: "Quem estiver sem pecado seja o primeiro a atirar uma pedra" (João 8). Pode uma comunidade cristã que pretende ser fiel à mensagem de seu fundador, bem como permanecer relevante em um mundo cada vez mais sensível ao sofrimento e à complexidade de cada indivíduo, continuar a aplicar medidas disciplinares indiscriminadamente? Não deveria também enfatizar, juntamente com o ideal e a norma, a necessidade de adaptação a cada caso específico? E, sobretudo, testemunhar que o amor é mais forte que a lei? [...]
Le Monde des religions, março-abril de 2009 — A crise desencadeada pela decisão de Bento XVI de suspender a excomunhão dos quatro bispos ordenados pelo Arcebispo Lefebvre em 1988 está longe de terminar. Ninguém pode criticar o Papa por cumprir seu dever ao tentar reintegrar à Igreja os cismáticos que o solicitam. O problema reside em outro ponto. Houve, é claro, a sobreposição desse anúncio com a publicação das odiosas declarações de negação do Holocausto de um deles, o Bispo Williamson. O fato de a Cúria Romana não ter considerado apropriado informar o Papa sobre as posições desse extremista, conhecidas em círculos informados desde novembro de 2008, já é um mau sinal. O fato de Bento XVI não ter condicionado a suspensão da excomunhão (publicada em 24 de janeiro) à retratação imediata de tais declarações (que se tornaram públicas em 22 de janeiro), e de o Papa ter levado uma semana para emitir uma declaração firme sobre o assunto, também é preocupante. Não que se possa suspeitar de conluio com antissemitas fundamentalistas — ele reiterou muito claramente em 12 de fevereiro que "a Igreja está profunda e irrevogavelmente comprometida com a rejeição do antissemitismo" —, mas sua procrastinação deu a impressão de que ele havia feito da reintegração dos fundamentalistas uma prioridade absoluta, quase cegante, recusando-se a ver como a maioria desses intransigentes ainda está presa a pontos de vista completamente opostos à Igreja estabelecida pelo Concílio Vaticano II. Ao suspender a excomunhão e iniciar um processo de integração destinado a conferir à Fraternidade São Pio X um status especial dentro da Igreja, o Papa acreditava, sem dúvida, que os últimos discípulos do Arcebispo Lefebvre acabariam por mudar e aceitar a abertura ao mundo defendida pelo Concílio Vaticano II. Os tradicionalistas pensavam exatamente o contrário. O bispo Tissier de Mallerais, um dos quatro bispos ordenados pelo arcebispo Lefebvre, declarou poucos dias após o levantamento da excomunhão, em entrevista ao jornal italiano La Stampa: “Não mudaremos nossas posições, mas pretendemos converter Roma, ou seja, levar o Vaticano à nossa posição”. Seis meses antes, na revista americana *The Angelus*, o mesmo prelado havia afirmado que a prioridade da Fraternidade São Pio X era “nossa perseverança em rejeitar os erros do Concílio Vaticano II” e previsto o surgimento de “repúblicas islâmicas” na França, Grã-Bretanha, Alemanha e Holanda; e em Roma, o fim do catolicismo, uma “apostasia organizada da religião judaica”. A Fraternidade São Pio X está agora à beira do colapso, tão divergentes são suas posições sobre a melhor estratégia a adotar em relação a Roma. Uma coisa é certa: a maioria desses extremistas sectários não tem intenção de renunciar ao que formou a base de sua identidade e de sua luta nos últimos quarenta anos: a rejeição dos princípios de abertura ao mundo, liberdade religiosa e diálogo com outras religiões, defendidos pelo Concílio. Como pode o Papa, por um lado, querer incluir esses fanáticos na Igreja a todo custo e, ao mesmo tempo, buscar o diálogo com outras denominações cristãs e religiões não cristãs? João Paulo II teve a clareza de visão para escolher sem ambiguidade, e foi, de fato, o encontro de Assis em 1986 com outras religiões que representou a gota d'água que levou o Arcebispo Lefebvre a romper com Roma. Desde sua eleição, Bento XVI tem feito inúmeros gestos em direção aos fundamentalistas e continua a minar o diálogo ecumênico e inter-religioso. É compreensível que haja grande inquietação entre muitos católicos, incluindo bispos, que se apegam ao espírito de diálogo e tolerância de um concílio que pretendia romper, de uma vez por todas, com o espírito antimoderno do catolicismo intransigente, rejeitando categoricamente o laicismo, o ecumenismo, a liberdade de consciência e os direitos humanos. Para celebrar seu quinto aniversário, Le Monde des Religions apresenta um novo formato, que transforma o jornal tanto na forma (novo layout, mais ilustrações) quanto no conteúdo: dossiê mais substancial com referências bibliográficas, mais filosofia sob a orientação de André Comte-Sponville, novo layout – as seções “História” e “Espiritualidade” dão lugar às seções “Conhecimento” e “Experiência” – e novas seções: “Diálogo Inter-religioso”, “24 Horas na Vida de…”, “3 Chaves para Compreender o Pensamento de…”, “O Artista e o Sagrado”; uma nova coluna literária de Leili Anvar; Mais páginas dedicadas a notícias culturais relacionadas à religião (cinema, teatro, exposições). [...]
O Mundo das Religiões, janeiro-fevereiro de 2009 — Há menos pontos em comum do que se poderia imaginar entre as várias religiões do mundo. Acima de tudo, existe a famosa Regra de Ouro, expressa de mil maneiras diferentes: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Há outra, em flagrante contradição a esse princípio, que surpreende por sua antiguidade, sua permanência e sua quase universalidade: o desprezo pelas mulheres. Como se a mulher fosse um ser humano em potencial ou um fracasso, certamente inferior ao sexo masculino. Os elementos históricos e textuais que apresentamos no dossiê desta edição para sustentar essa triste observação são eloquentes demais. Por que tanto desprezo? Os motivos psicológicos são, sem dúvida, decisivos. Como nos lembra Michel Cazenave, seguindo os pioneiros da psicanálise, o homem sente ciúmes do prazer feminino e, ao mesmo tempo, medo do próprio desejo por mulheres. A sexualidade está, sem dúvida, no cerne do problema, e os homens islâmicos que toleram apenas mulheres com véu não são diferentes dos Padres da Igreja, que viam as mulheres apenas como potenciais tentadoras. Existem também razões sócio-históricas para essa subjugação das mulheres em quase todas as culturas, uma subjugação para a qual as religiões contribuíram decisivamente. O antigo culto da "Grande Deusa" testemunha uma valorização do princípio feminino. Os xamãs das primeiras religiões da humanidade são homens ou mulheres, como os espíritos que veneram, como evidenciado pelas tradições orais que sobreviveram até hoje. Mas, há alguns milênios, quando as cidades se desenvolveram e os primeiros reinos foram estabelecidos, a necessidade de organização social tornou-se evidente, e uma administração política e religiosa emergiu. E foram os homens que assumiram os papéis de governo. Os sacerdotes encarregados de administrar o culto religioso rapidamente masculinizaram o panteão, e deuses masculinos, espelhando o que acontecia na Terra, tomaram o poder no céu. As religiões monoteístas, por sua vez, apenas reproduziram e, às vezes, até ampliaram esse modelo politeísta, dando ao deus único uma face exclusivamente masculina. Um grande paradoxo das religiões por milênios: embora frequentemente desprezadas, as mulheres são muitas vezes o seu verdadeiro coração; Elas oram, transmitem conhecimento e se solidarizam com o sofrimento alheio. Hoje, as atitudes estão evoluindo graças à secularização das sociedades modernas e à emancipação feminina que ela fomentou. Infelizmente, algumas práticas terríveis – como os recentes ataques com ácido contra quinze adolescentes afegãs a caminho da escola em Kandahar – e declarações ultrapassadas – como as do Arcebispo de Paris: "Não basta usar saias, é preciso também ter inteligência" – mostram que ainda há um longo caminho a percorrer até que as tradições religiosas finalmente reconheçam as mulheres como iguais aos homens e apaguem esses antigos vestígios de misoginia de suas doutrinas e práticas. [...]
Le Monde des religions, novembro-dezembro de 2008 — No 40º aniversário da encíclica Humanae Vitae, Bento XVI reiterou firmemente a oposição da Igreja Católica à contracepção, com exceção da "observância dos ritmos naturais da fertilidade da mulher" quando um casal se encontra em "circunstâncias graves" que justifiquem o espaçamento entre os nascimentos. Essas declarações, naturalmente, provocaram uma onda de críticas que destacaram, mais uma vez, a desconexão entre a doutrina moral da Igreja e as normas sociais em evolução. Essa desconexão, por si só, não me parece constituir uma crítica justificada. A Igreja não é uma empresa que precisa vender sua mensagem a qualquer custo. O fato de seu discurso estar em desacordo com a evolução de nossas sociedades pode também ser um sinal saudável de resistência ao espírito da época. O Papa não está lá para abençoar a revolução moral, mas para defender certas verdades em que acredita, mesmo correndo o risco de perder alguns fiéis. A verdadeira crítica que pode ser feita a essa condenação da contracepção diz respeito ao argumento utilizado para justificá-la. Bento XVI reiterou este ponto: excluir a possibilidade de dar à luz "por meio de uma ação destinada a impedir a procriação" equivale a "negar a verdade íntima do amor conjugal". Ao vincular indissoluvelmente o amor dos cônjuges à procriação, o magistério da Igreja permanece coerente com uma antiga tradição católica que remonta a Santo Agostinho, que desconfia da carne e do prazer carnal, e que, em última análise, concebe as relações sexuais apenas sob a perspectiva da reprodução. Segundo essa visão, pode um casal estéril experimentar verdadeiramente o amor? Contudo, nada nos Evangelhos corrobora tal interpretação, e outras tradições cristãs, particularmente as orientais, oferecem uma perspectiva completamente diferente sobre o amor e a sexualidade humana. Há, portanto, aqui um problema teológico fundamental que merece ser totalmente repensado, não por causa da mudança dos costumes sociais, mas por causa de uma visão altamente questionável da sexualidade e do amor conjugal. Sem mencionar, é claro, as consequências sociais, muitas vezes dramáticas, que tal discurso pode ter em populações empobrecidas, onde a contracepção é frequentemente a única maneira eficaz de combater o aumento da pobreza. Figuras religiosas como o Abade Pierre e a Irmã Emmanuelle — uma jovem centenária a quem desejo um feliz aniversário! — escreveram a João Paulo II nesse mesmo sentido. É sem dúvida por essas razões profundas, e não apenas por causa da revolução sexual, que muitos católicos abandonaram as igrejas desde 1968. Como afirmou recentemente o Cardeal Etchegaray, a Humanae Vitae constituiu um "cisma silencioso" em sua época, tamanho o choque causado em muitos fiéis pela visão da vida matrimonial transmitida pela encíclica papal. Esses católicos desiludidos não são casais libertinos que defendem a sexualidade desenfreada, mas crentes que se amam e que não entendem por que a verdade de seu amor deveria ser dissolvida por uma vida sexual dissociada do desejo de ter filhos. Com exceção dos grupos mais extremistas, nenhuma outra denominação cristã, aliás, nenhuma outra religião, sustenta tal visão. Por que a Igreja Católica ainda tem tanto medo do prazer carnal? É compreensível a ênfase da Igreja na natureza sagrada do dom da vida. Mas a sexualidade, quando vivenciada em um amor autêntico, não constitui também uma experiência do sagrado? [...]
Le Monde des religions, setembro-outubro de 2008 — Como o próprio nome indica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos pretende ser universal, ou seja, pretende basear-se num fundamento natural e racional que transcenda todas as considerações culturais particulares: independentemente do local de nascimento, sexo ou religião, todos os seres humanos têm direito ao respeito pela sua integridade física, à livre expressão das suas crenças, a uma vida digna, ao trabalho, à educação e aos cuidados de saúde. Tendo este objetivo universalista surgido no século XVIII, no seio do Iluminismo europeu, alguns países têm, nas últimas duas décadas, expressado sérias reservas quanto à natureza universal dos direitos humanos. Trata-se, principalmente, de países da Ásia e de África que foram vítimas da colonização e que equiparam a universalidade dos direitos humanos a uma postura colonialista: tendo imposto a sua dominação política e económica, o Ocidente pretende impor os seus valores ao resto do mundo. Estes Estados apoiam-se na noção de diversidade cultural para defender a ideia de um relativismo dos direitos humanos. Estes direitos variam consoante a tradição ou cultura de cada país. Tal raciocínio é compreensível, mas não devemos nos deixar enganar. Ele se adequa convenientemente às ditaduras e permite a perpetuação de práticas que impõem a dominação tradicional sobre o indivíduo: dominação da mulher em mil formas (mutilação genital feminina, execução por adultério, tutela pelo pai ou marido), trabalho infantil precoce, proibições de mudança de religião, e assim por diante. Aqueles que rejeitam a universalidade dos direitos humanos compreendem isso muito bem: é justamente a emancipação do indivíduo em relação ao grupo que a aplicação desses direitos possibilita. E qual indivíduo não aspira ao respeito por sua integridade física e moral? O interesse do coletivo nem sempre é o do indivíduo, e é aqui que uma escolha fundamental da civilização está em jogo. Por outro lado, é perfeitamente legítimo criticar os governos ocidentais por nem sempre praticarem o que pregam! A legitimidade dos direitos humanos seria infinitamente mais forte se as democracias fossem exemplares. No entanto, para citar apenas um exemplo, a forma como o exército americano tratou os prisioneiros iraquianos ou aqueles em Guantánamo (tortura, ausência de julgamentos, estupro, humilhação) fez com que o Ocidente perdesse toda a credibilidade moral aos olhos de muitas populações para as quais discursamos sobre direitos humanos. Somos justamente criticados por invadir o Iraque em nome da defesa de valores como a democracia, quando apenas razões econômicas importavam. Podemos também criticar nossas sociedades ocidentais atuais, que sofrem de individualismo excessivo. O senso de bem comum praticamente desapareceu, o que gera problemas para a coesão social. Mas entre essa falha e a de uma sociedade onde o indivíduo está inteiramente sujeito à autoridade do grupo e da tradição, quem escolheria a segunda? O respeito aos direitos humanos fundamentais me parece uma conquista essencial, e seu alcance universal, legítimo. O desafio, então, passa a ser encontrar uma aplicação harmoniosa desses direitos em culturas ainda profundamente marcadas pela tradição, particularmente a religiosa, o que nem sempre é fácil. No entanto, ao analisarmos mais de perto, percebemos que toda cultura possui um fundamento intrínseco para os direitos humanos, ainda que apenas por meio da famosa Regra de Ouro, escrita por Confúcio há 2.500 anos e inscrita de uma forma ou de outra no âmago de todas as civilizações humanas: "Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você" [...]
Le Monde des religions, julho-agosto de 2008 — Ocorridos poucos meses antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, os tumultos de março passado no Tibete trouxeram brutalmente a questão tibetana de volta ao centro das atenções internacionais. Diante da indignação pública, os governos ocidentais, unanimemente, apelaram ao governo chinês para que retomasse o diálogo com o Dalai Lama, que, contrariamente aos desejos da maioria dos seus compatriotas, já não exige a independência do seu país, mas simplesmente autonomia cultural dentro da China. Foram estabelecidos contactos provisórios, mas todos os observadores perspicazes sabem que as suas hipóteses de sucesso são mínimas. O atual presidente chinês, Hu Jintao, foi governador do Tibete há vinte anos e reprimiu com tanta violência os tumultos de 1987-1989 que ficou conhecido como o "Açougueiro de Lhasa". Isto valeu-lhe uma ascensão meteórica dentro do partido, mas também lhe incutiu um profundo ressentimento contra o líder tibetano que recebeu o Prémio Nobel da Paz nesse mesmo ano. A política da liderança chinesa de demonizar o Dalai Lama e aguardar sua morte enquanto prossegue com uma política brutal de colonização no Tibete é extremamente arriscada. Pois, ao contrário do que alegam, os tumultos de março passado, assim como os de vinte anos atrás, não foram instigados pelo governo tibetano no exílio, mas por jovens tibetanos que não suportam mais a opressão que sofrem: prisões por suas opiniões, a proibição de falar tibetano em repartições públicas, inúmeros obstáculos à prática religiosa, favoritismo econômico em relação aos colonos chineses, que estão se tornando mais numerosos que os tibetanos, e assim por diante. Desde a invasão do Tibete pelo Exército Popular de Libertação da China em 1950, essa política de violência e discriminação apenas fortaleceu o sentimento nacionalista entre os tibetanos, que antes eram bastante rebeldes em relação ao Estado e que vivenciavam seu senso de pertencimento ao Tibete mais pela identidade compartilhada de uma língua, cultura e religião comuns do que por um sentimento nacionalista com motivações políticas. Quase sessenta anos de brutal colonização apenas reforçaram esse sentimento nacionalista, e uma esmagadora maioria dos tibetanos deseja recuperar a independência de seu país. Somente uma figura tão legítima e carismática quanto o Dalai Lama é capaz de persuadi-los a renunciar a essa reivindicação legítima e a chegar a um acordo com as autoridades em Pequim sobre uma forma de autonomia cultural tibetana dentro de um espaço nacional chinês onde os dois povos possam tentar coexistir harmoniosamente. Em 22 de março, trinta intelectuais dissidentes chineses residentes na China publicaram um corajoso artigo de opinião na imprensa estrangeira, enfatizando que a demonização do Dalai Lama e a recusa em fazer qualquer concessão significativa ao Tibete estavam levando a China ao dramático beco sem saída da repressão permanente. Essa repressão apenas reforça o sentimento antichinês entre os três principais povos colonizados — tibetanos, uigures e mongóis — referidos como “minorias” pelas autoridades comunistas, que representam apenas 3% da população, mas ocupam quase 50% do território. Esperemos que os Jogos Olímpicos de Pequim não sejam Jogos da vergonha, mas sim Jogos que permitam às autoridades chinesas acelerar a sua abertura ao mundo e aos valores do respeito pelos direitos humanos, a começar pela liberdade de autodeterminação dos indivíduos e dos povos. [...]
Le Monde des religions, maio-junho de 2008 — Os últimos meses foram marcados por controvérsias em torno do tema altamente sensível da República e da religião na França. De fato, como sabemos, a nação francesa foi construída sobre uma dolorosa emancipação da esfera política em relação à religiosa. Da Revolução Francesa à lei de 1905 sobre a separação entre Igreja e Estado, a violência das lutas entre católicos e republicanos deixou profundas cicatrizes. Enquanto em outros países a religião desempenhou um papel significativo na construção da política moderna e onde a separação de poderes nunca foi controversa, o laicismo francês tem sido um laicismo combativo. Fundamentalmente, concordo com a ideia de Nicolas Sarkozy de passar de um laicismo combativo para um mais pacífico. Mas não é esse o caso? O Presidente da República está certo ao enfatizar a importância da herança cristã e ao destacar o papel positivo que as religiões podem desempenhar, tanto na esfera privada quanto na pública. O problema é que suas declarações foram longe demais, o que, com razão, provocou fortes reações. Em Roma (20 de dezembro), ele contrapôs o padre ao professor, figura emblemática da República laica, afirmando que o primeiro é superior ao segundo na transmissão de valores. A declaração de Riade (14 de janeiro) é ainda mais problemática. Embora Nicolas Sarkozy aponte corretamente que "não é o sentimento religioso que é perigoso, mas sim o seu uso para fins políticos", ele faz uma profissão de fé bastante surpreendente: "Um Deus transcendente que está nos pensamentos e corações de cada pessoa. Um Deus que não escraviza a humanidade, mas a liberta". O Papa não poderia ter dito melhor. Vindo do presidente de uma nação laica, essas declarações são certamente surpreendentes. Não que Nicolas Sarkozy, o indivíduo, não tenha o direito de ter tais opiniões. Mas, quando expressas em um contexto oficial, elas comprometem a nação e só podem chocar, até mesmo escandalizar, todos os franceses que não compartilham das opiniões espirituais do Sr. Sarkozy. No exercício de suas funções, o Presidente da República deve manter neutralidade em relação às religiões: nem denegri-las, nem apologias. Argumenta-se que os presidentes americanos não hesitam em mencionar Deus em seus discursos, embora a Constituição americana separe formalmente os poderes políticos e religiosos, assim como a nossa. Certamente, mas a fé em Deus e no papel messiânico da nação americana está entre as verdades autoevidentes compartilhadas pela grande maioria e forma a base de uma espécie de religião civil. Na França, a religião não une; ela divide. Como sabemos, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Com a nobre intenção de reconciliar a República e a religião, Nicolas Sarkozy corre o risco, por meio de desajeitamento e zelo excessivo, de produzir exatamente o oposto do resultado desejado. Sua colega Emmanuelle Mignon cometeu o mesmo erro com a questão igualmente sensível dos cultos. Com a intenção de romper com uma política por vezes excessivamente simplista de estigmatização de grupos religiosos minoritários — uma política condenada por inúmeros especialistas jurídicos e acadêmicos (eu mesmo critiquei veementemente o relatório parlamentar de 1995 e a lista aberrante que o acompanhou) — ela vai longe demais ao afirmar que seitas constituem "um não-problema". Consequentemente, aqueles que ela critica com razão têm facilidade em lembrar a todos, também com razão, que existem abusos graves, típicos de seitas, que de forma alguma podem ser considerados um não-problema! É lamentável que, ao abordar a questão religiosa nos mais altos escalões do governo de uma maneira nova e desinibida, posições excessivamente categóricas ou inadequadas tornem esse discurso tão inaudível e contraproducente. [...]
Le Monde des religions, março-abril de 2008 — Caro Régis Debray, Em sua coluna, que recomendo ao leitor antes de prosseguir, o senhor levanta um ponto muito instigante para mim. Mesmo que o senhor caricatura um pouco minha tese sobre o cristianismo, reconheço plenamente a diferença em nossas perspectivas. O senhor enfatiza seu caráter coletivo e político, enquanto eu insisto na natureza pessoal e espiritual da mensagem de seu fundador. Compreendo perfeitamente que o senhor esteja questionando o fundamento do vínculo social. Em seus escritos políticos, o senhor demonstrou de forma convincente que ele sempre se baseia, de uma forma ou de outra, em um elemento "invisível", ou seja, alguma forma de transcendência. O Deus dos cristãos foi essa transcendência na Europa até o século XVIII; a razão e o progresso deificados o sucederam, seguidos pelo culto à nação e pelas grandes ideologias políticas do século XX. Após o fracasso, por vezes trágico, de todas essas religiões seculares, compartilho sua preocupação com o papel crescente do dinheiro como uma nova forma de religião em nossas sociedades individualistas. Mas o que se pode fazer? Deveríamos ansiar pela Cristandade, isto é, por uma sociedade governada pela religião cristã, assim como existem sociedades governadas pelo Islã hoje? Nostalgia por uma sociedade em cujo altar a liberdade individual e o direito a diferentes pensamentos e religiões foram sacrificados? Do que estou convencido é que essa sociedade, que ostentava o nome de "cristã" e que, além disso, realizou grandes feitos, não foi verdadeiramente fiel à mensagem de Jesus, que defendia, por um lado, a separação entre política e religião e, por outro, insistia na liberdade individual e na dignidade da pessoa humana. Não estou dizendo que Cristo queria abolir toda a religião, com seus ritos e dogmas, como cimento da sociedade, mas queria mostrar que a essência de sua mensagem tende a emancipar o indivíduo do grupo, enfatizando a liberdade pessoal, a verdade interior e a dignidade absoluta. Tanto que nossos valores modernos mais sagrados — os dos direitos humanos — têm suas raízes, em grande parte, nessa mensagem. Cristo, como Buda antes dele, e diferentemente de outros fundadores de religiões, não se preocupa primordialmente com a política. Ele propõe uma revolução da consciência individual capaz de conduzir, a longo prazo, a uma mudança na consciência coletiva. É porque os indivíduos serão mais justos, mais conscientes, mais verdadeiros e mais amorosos que as sociedades também evoluirão. Jesus não convoca uma revolução política, mas uma conversão pessoal. À lógica religiosa baseada na obediência à tradição, ele opõe uma lógica de responsabilidade individual. Reconheço que esta mensagem é um tanto utópica, e vivemos atualmente em um certo caos onde as antigas formas de pensar, baseadas na obediência às leis sagradas do grupo, já não funcionam, e onde poucos indivíduos ainda se comprometem com um caminho genuíno de amor e responsabilidade. Mas quem sabe o que acontecerá daqui a alguns séculos? Eu acrescentaria que esta revolução da consciência individual não se opõe de forma alguma às crenças religiosas ou políticas compartilhadas pelas massas, nem à institucionalização da mensagem, cuja inevitabilidade você bem aponta. Ela pode, no entanto, impor-lhes um limite: o do respeito à dignidade da pessoa humana. Na minha opinião, este é todo o ensinamento de Cristo, que de forma alguma nega a religião, mas a enquadra em três princípios invioláveis: amor, liberdade e laicidade. E é uma forma de sacralidade, a meu ver, que pode reconciliar crentes e não crentes hoje. [...]
Le Monde des religions, janeiro-fevereiro de 2008 — A história se passa na Arábia Saudita. Uma jovem casada de 19 anos encontra-se com um amigo de infância. Ele a convida para entrar em seu carro para lhe entregar uma fotografia. De repente, sete homens aparecem e os sequestram. Eles agridem o homem e estupram a mulher repetidamente. Ela presta queixa. Os estupradores recebem penas leves de prisão, mas a vítima e seu amigo também são condenados pelo tribunal a 90 chibatadas por estarem sozinhos e em privado com uma pessoa do sexo oposto que não seja membro de sua família imediata (essa ofensa é chamada de khilwa na lei islâmica, Sharia). A jovem decide recorrer, contrata um advogado e torna o caso público. Em 14 de novembro, o tribunal aumentou sua pena para 200 chibatadas e acrescentou mais seis anos de prisão. Um funcionário do Tribunal Geral de Qatif, que proferiu a sentença em 14 de novembro, explicou que o tribunal aumentou a pena da mulher devido à "sua tentativa de inflamar a situação e influenciar o judiciário por meio da mídia". O tribunal também assediou seu advogado, impedindo-o de atuar no caso e confiscando sua licença profissional. A Human Rights Watch e a Anistia Internacional assumiram o caso e estão tentando intervir junto ao Rei Abdullah para reverter a decisão injusta do tribunal. Talvez consigam? Mas para cada mulher que teve a coragem de se manifestar e tornar pública sua história angustiante, quantas outras sofrem estupro sem jamais ousar prestar queixa por medo de serem acusadas de seduzir o estuprador ou de manter relações ilícitas com um homem que não era seu marido? A situação das mulheres na Arábia Saudita, assim como no Afeganistão, Paquistão, Irã e outros países muçulmanos que aplicam rigorosamente a lei islâmica (Sharia), é intolerável. No contexto internacional atual, qualquer crítica de ONGs ou governos ocidentais é percebida como interferência inaceitável, não apenas por autoridades políticas e religiosas, mas também por uma parcela da população. A situação das mulheres em países muçulmanos, portanto, só terá chance de melhoria genuína se a opinião pública nesses países também reagir. O caso que acabei de descrever recebeu atenção da mídia e causou comoção na Arábia Saudita. É por meio da coragem excepcional de algumas mulheres vítimas de injustiça, bem como de homens sensíveis à sua situação, que as coisas mudarão. Inicialmente, esses reformadores podem se basear na tradição para demonstrar que existem leituras e interpretações alternativas do Alcorão e da Sharia, que conferem às mulheres um lugar de maior destaque e lhes oferecem maior proteção contra a natureza arbitrária das leis patriarcais. Foi o que aconteceu no Marrocos em 2004 com a reforma do código da família, que representa um progresso considerável. Mas, uma vez dado esse primeiro passo, os países muçulmanos inevitavelmente enfrentarão um desafio maior: a verdadeira emancipação das mulheres de um conceito religioso e de uma lei desenvolvida séculos atrás em sociedades patriarcais que não reconheciam qualquer igualdade entre homens e mulheres. O secularismo possibilitou essa revolução extremamente recente nas atitudes do Ocidente. Sem dúvida, a emancipação definitiva das mulheres no mundo islâmico também exigirá uma separação completa entre religião e política. [...]
Le Monde des religions, setembro-outubro de 2007 — Fiquei um tanto surpreso com a avalanche de críticas, inclusive dentro da Igreja, que a decisão do Papa de reinstaurar a Missa em latim provocou. Nos últimos dois anos, tenho apontado com frequência as políticas ultrarreacionárias de Bento XVI em todas as áreas, então não resisto ao prazer de defendê-lo aqui! É óbvio que o Papa quer trazer de volta as ovelhas desgarradas do Arcebispo Lefebvre. Mas não há oportunismo de sua parte, pois o Cardeal Ratzinger reiterou incansavelmente, por mais de trinta anos, seu desconforto com a implementação das reformas litúrgicas do Vaticano II e seu desejo de devolver aos fiéis a escolha entre o rito novo e o antigo, herdada do Papa Pio V (que o promulgou em 1570). Isso será concretizado a partir de 14 de setembro. Por que reclamar de uma medida que, em uma rara demonstração de confiança, oferece aos fiéis uma genuína liberdade de escolha? Uma vez que o antigo ritual é despojado de suas frases antissemitas, que testemunhavam o profundo antissemitismo cristão que persistiu até o Concílio Vaticano II, não consigo entender como a Missa de Pio V, celebrada com a congregação de costas para o altar e em latim, poderia constituir um terrível retrocesso para a Igreja. Três experiências pessoais, ao contrário, me convencem da sensatez do Papa. Fiquei impressionado, ao visitar Taizé, ao descobrir que milhares de jovens de todo o mundo cantavam em latim! O Irmão Roger me explicou então o motivo: dada a diversidade de línguas faladas, o latim havia se estabelecido como a língua litúrgica que podia ser usada por todos. Uma experiência semelhante ocorreu em Calcutá, em uma capela das Missionárias da Caridade de Madre Teresa, durante a Missa celebrada para os muitos voluntários que vieram de todo o mundo: quase todos puderam participar da liturgia porque ela era dita em latim e, claramente, as memórias da infância dos participantes ainda estavam vivas. O latim, língua litúrgica universal da Igreja Católica, ao lado de missas em línguas vernáculas — por que não? Uma experiência final, vivenciada durante a pesquisa sociológica que realizei há cerca de dez anos com dezenas de seguidores franceses do budismo tibetano: fiquei muito surpreso ao ouvir de vários deles que apreciavam os ritos tibetanos por serem realizados em uma língua que não era a sua nativa! Disseram-me que consideravam a missa dominical em francês empobrecida e sem mistério, enquanto sentiam o sagrado nas práticas tibetanas. O tibetano servia como seu latim. Quem sabe: Bento XVI pode não trazer apenas fundamentalistas de volta ao seio da Igreja (1). … Fundada em setembro de 2003, a revista Le Monde des Religions celebra seu quarto aniversário. Vocês podem julgar a qualidade da revista por si mesmos. Mas os resultados financeiros são extremamente positivos. A circulação da revista teve uma média de 42.000 exemplares em 2004. Esse número saltou para 57.000 exemplares em 2005 e continuou crescendo fortemente, com uma circulação média de 66.000 exemplares em 2006. Segundo a revista Stratégies, Le Monde des Religions teve o terceiro maior índice de crescimento entre as publicações francesas em 2006. Esta é uma oportunidade para agradecer a vocês, queridos leitores, bem como a todos que contribuem para a revista, e para informá-los sobre a reformulação das páginas do Fórum, que agora estão mais dinâmicas. Gostaria também de agradecer a Jean-Marie Colombani, que deixou neste verão o cargo de diretor do grupo La Vie-Le Monde. Sem ele, Le Monde des Religions jamais teria existido. Quando me convidou para ser editor-chefe, ele me disse o quanto considerava importante que houvesse uma revista que abordasse questões religiosas a partir de uma perspectiva resolutamente laica. Ele sempre nos apoiou, mesmo quando a revista ainda operava com prejuízo, e sempre nos concedeu total liberdade em nossas escolhas editoriais. (1) Veja o debate na pág. 17. [...]
O Mundo das Religiões, novembro-dezembro de 2007 — Madre Teresa duvidava da existência de Deus. Durante décadas, ela sentiu que o céu estava vazio. Essa revelação foi chocante. O fato parece surpreendente, dadas as suas constantes referências a Deus. No entanto, a dúvida não é a negação de Deus — é o questionamento — e a fé não é a certeza. Certeza e convicção são frequentemente confundidas. A certeza provém de evidências sensoriais indiscutíveis (este gato é preto) ou do conhecimento racional universal (leis da ciência). A fé é uma convicção individual e subjetiva. Para alguns crentes, assemelha-se a uma vaga opinião ou a uma herança inquestionada; para outros, é uma convicção mais ou menos forte e profunda. Mas, em todos os casos, não pode ser certeza sensorial ou racional: ninguém jamais terá provas definitivas da existência de Deus. Crer não é saber. Crentes e não crentes sempre terão excelentes argumentos para explicar se Deus existe ou não: ninguém jamais provará nada. Como Kant demonstrou, a ordem da razão e a da fé são fundamentalmente diferentes. Ateísmo e fé são questões de convicção e, de fato, cada vez mais pessoas no Ocidente se identificam como agnósticas: reconhecem não ter uma convicção definitiva sobre essa questão. Como não se baseia nem em evidências sensoriais (Deus é invisível) nem em conhecimento objetivo, a fé implica necessariamente dúvida. E o que parece paradoxal, mas é perfeitamente lógico, é que essa dúvida é proporcional à intensidade da própria fé. Um crente que adere apenas fracamente à existência de Deus será menos frequentemente atormentado por dúvidas; nem sua fé nem suas dúvidas perturbarão profundamente sua vida. Por outro lado, um crente que vivenciou momentos intensos e luminosos de fé, ou mesmo que tenha apostado toda a sua vida na fé como Madre Teresa, acabará por sentir a ausência de Deus como algo terrivelmente doloroso. A dúvida se tornará uma provação existencial. É isso que grandes místicos, como Teresa de Lisieux ou São João da Cruz, vivenciam e descrevem quando falam da "noite escura" da alma, onde todas as luzes interiores se extinguem, deixando o crente na fé mais nua, pois não lhe resta nada em que se apoiar. São João da Cruz explica que, dessa forma, ao dar a impressão de afastamento, Deus testa o coração dos fiéis para guiá-los adiante no caminho da perfeição do amor. Essa é uma sólida explicação teológica. De uma perspectiva racional externa à fé, essa crise pode ser facilmente explicada pelo simples fato de que os crentes jamais podem ter certeza, conhecimento objetivo, sobre os fundamentos de sua fé, e inevitavelmente começam a questioná-la. A intensidade de suas dúvidas será proporcional à importância existencial de sua fé. Certamente, existem crentes muito comprometidos, muito religiosos, que afirmam nunca experimentar a dúvida: os fundamentalistas. Pior ainda, consideram a dúvida um fenômeno diabólico. Para eles, duvidar é fracassar, trair, mergulhar no caos. Por elevarem erroneamente a fé ao status de certeza, eles se proíbem, tanto interna quanto socialmente, de duvidar. A repressão da dúvida leva a todo tipo de tensão: intolerância, pedantismo ritualístico, rigidez doutrinal, demonização dos não crentes e fanatismo, que por vezes escala para violência assassina. Os fundamentalistas de todas as religiões são semelhantes porque rejeitam a dúvida, esse lado sombrio da fé, que, no entanto, é seu corolário indispensável. Madre Teresa reconhecia suas dúvidas, por mais dolorosas que fossem de vivenciar e expressar, porque sua fé era animada pelo amor. Os fundamentalistas jamais acolherão ou admitirão suas próprias dúvidas, porque sua fé se fundamenta no medo. E o medo proíbe a dúvida. P.S.: É com grande prazer que dou as boas-vindas a Christian Bobin à nossa coluna. [...]
O Mundo das Religiões, julho-agosto de 2007 — Após a ansiedade de 6 de junho de 2006 (666), veio a euforia de 7 de julho de 2007 (777). Casas de jogos enfatizam a importância simbólica dessas datas, o cinema de Hollywood se apropriou do famoso número da besta do Apocalipse (666) e prefeitos estão recebendo, com espanto, um grande número de pedidos de casamento para este famoso 7 de julho. Mas, entre aqueles que acreditam no número 7, quem realmente entende seu simbolismo? Este número se estabeleceu na antiguidade como um sinal de completude e perfeição devido aos sete planetas então observáveis. Ele manteve esse sentido de plenitude na Bíblia Hebraica: no sétimo dia, Deus descansa após os seis dias da criação. Na Idade Média, teólogos cristãos retomaram esse significado e enfatizaram que o número 7 manifestava a aliança entre o céu (3) e a terra (4). A partir daí, começaram a rastrear e interpretar sua presença nas Escrituras: os sete dons do Espírito, as sete últimas palavras de Cristo na cruz, as sete petições da Oração do Senhor, as sete Igrejas do Apocalipse, sem mencionar os sete anjos, as sete trombetas e os sete selos. A escolástica medieval também procurou reduzir tudo a esse número perfeito: as sete virtudes (as quatro virtudes cardinais provenientes do homem e as três virtudes teologais provenientes de Deus), os sete sacramentos, os sete pecados capitais, os sete círculos do inferno… O recente entusiasmo de alguns contemporâneos pelo simbolismo dos números (basta pensar no sucesso global dos “enigmas” de O Código Da Vinci ou no sucesso transatlântico de uma Cabala barata) não se baseia mais em uma cultura religiosa que lhe conferisse significado e coerência. Na maioria das vezes, resume-se a uma abordagem supersticiosa. No entanto, não reflete isso uma real necessidade de reconectar-se com o pensamento simbólico, banido de nossas sociedades modernas desde o triunfo do cientificismo? Entre as muitas definições de homem, poderíamos dizer que ele é o único animal capaz de simbolização. O único a buscar no mundo ao seu redor um significado oculto e profundo que o conecte a um mundo interior ou invisível. A etimologia grega da palavra "símbolo", *sumbolon*, refere-se a um objeto que foi separado em várias partes, cuja reunião oferece um sinal de reconhecimento. Ao contrário do diabo (diabolon), que divide, o símbolo une, conecta. Ele responde a uma necessidade enraizada na psique de conectar o visível e o invisível, o externo e o interno. É por isso que, desde o alvorecer da humanidade, o símbolo aparece como a manifestação quintessencial da profundidade do espírito humano e do sentimento religioso (religião, cuja etimologia latina *religare* também significa "ligar"). Quando o homem pré-histórico colocava seus mortos sobre uma almofada de flores, associava o símbolo da flor ao afeto que o ligava a eles. Quando coloca os cadáveres em posição fetal, com a cabeça voltada para o leste, associa o simbolismo do feto e o do sol nascente ao renascimento, expressando assim sua crença, ou esperança, em uma vida após a morte. Seguindo os românticos alemães, Carl Gustav Jung demonstrou que a alma do homem moderno está doente pela falta de mitos e símbolos. Certamente, a modernidade inventou novos mitos e símbolos — os da publicidade, por exemplo — mas eles não respondem ao anseio profundo e universal por significado da nossa psique. Nas últimas três décadas, o ressurgimento da astrologia e do esoterismo, e o sucesso global de obras de ficção como O Senhor dos Anéis, O Alquimista, Harry Potter e As Crônicas de Nárnia, são sinais da necessidade de um "reencantamento do mundo". De fato, os seres humanos não podem se conectar com o mundo e com a vida apenas através da lógica. Ele precisa se conectar com isso também através do coração, da sensibilidade, da intuição e da imaginação. O símbolo torna-se, então, uma porta de entrada para o mundo e para si mesmo. Contanto, porém, que ele faça um mínimo esforço em busca de conhecimento e discernimento racional. Pois render-se ao pensamento puramente mágico, ao contrário, o aprisionaria em um totalitarismo da imaginação, podendo levá-lo a um delírio interpretativo de signos. [...]
Le Monde des religions, maio-junho de 2007 — “Acampamento de Jesus”. Este é o nome de um documentário perturbador sobre evangélicos americanos, lançado em 18 de abril nos cinemas franceses. Ele acompanha a “formação na fé” de crianças de 8 a 12 anos de famílias pertencentes ao movimento evangélico. Elas frequentam aulas de catecismo ministradas por um missionário, apoiador de Bush, cujas declarações são arrepiantes. As pobres crianças adorariam ler Harry Potter, como seus colegas, mas o catequista proíbe estritamente, lembrando-as, sem um pingo de ironia, que bruxos são inimigos de Deus e que “no Antigo Testamento, Harry Potter teria sido morto”. A câmera então captura um breve momento de alegria: uma criança de pais divorciados confidencia maliciosamente ao vizinho que conseguiu assistir ao DVD do último filme… na casa do pai! Mas a condenação dos crimes do bruxo fictício empalidece em comparação com a lavagem cerebral a que essas crianças são submetidas no acampamento de verão. Toda a agenda dos conservadores americanos é exposta, e da pior maneira possível: a visita de uma réplica de papelão do presidente Bush, a quem são obrigados a saudar como o novo Messias; a distribuição de pequenos fetos de plástico para que percebam o horror do aborto; uma crítica radical às teorias darwinianas sobre a evolução das espécies… Tudo isso em uma atmosfera constante de carnaval, aplausos e cânticos em línguas estranhas. No final do documentário, a catequista é acusada por um jornalista de fazer lavagem cerebral nas crianças. A pergunta não a choca nem um pouco: "Sim", responde ela, "mas os muçulmanos fazem exatamente a mesma coisa com seus filhos". O Islã é uma das obsessões desses evangélicos pró-Bush. Uma cena impactante encerra o filme: uma jovem missionária, que deve ter uns 10 anos, se aproxima de um grupo de pessoas negras na rua para perguntar: "Para onde vocês acham que vão depois da morte?". A resposta a deixa sem palavras. “Eles têm certeza de que vão para o céu… mesmo sendo muçulmanos”, confidencia ela ao seu jovem amigo missionário. “Eles devem ser cristãos”, conclui ele após um momento de hesitação. Essas pessoas são “evangélicas” apenas no nome. Sua ideologia sectária (nós somos os verdadeiros escolhidos) e sua postura belicosa (vamos dominar o mundo para convertê-lo) são a antítese da mensagem do Evangelho. Acaba-se também por sentir repulsa pela obsessão deles com o pecado, especialmente o pecado sexual. É inevitável pensar que essa insistência em condenar o sexo (antes do casamento, fora do casamento, entre pessoas do mesmo sexo) deve estar escondendo muitos desejos reprimidos. O que acabou de acontecer com o Reverendo Ted Haggard, o carismático presidente da Associação Evangélica Nacional da América, que tem 30 milhões de membros, é uma ilustração perfeita disso. Vemos ele no filme discursando para as crianças. Mas o que o filme não menciona, porque o escândalo veio depois, é que esse defensor da luta contra a homossexualidade foi denunciado, alguns meses antes, por uma prostituta de Denver como um cliente particularmente frequente e perverso. Depois de inicialmente negar as acusações, o pastor finalmente admitiu sua homossexualidade, "essa imundície" da qual alega ter sido vítima por anos, em uma longa carta enviada à sua congregação para explicar sua renúncia. Essa América enganosa e hipócrita, a América de Bush, é assustadora. No entanto, devemos evitar generalizações infelizes. Embora esses fundamentalistas cristãos, presos em suas certezas estreitas e intolerância assustadora, sejam verdadeiros reflexos do Talibã afegão, eles não representam a totalidade dos aproximadamente 50 milhões de evangélicos americanos que, convém lembrar, se opuseram em grande parte à guerra no Iraque. Devemos também ter cuidado para não equiparar esses fanáticos religiosos aos evangélicos franceses, que estão estabelecidos na França há mais de um século e agora somam mais de 350.000 pessoas em 1.850 locais de culto. Seu fervor emocional e proselitismo, inspirados pelas megaigrejas americanas, podem ser perturbadores. Isso não é motivo para equipará-los a seitas perigosas, como as autoridades públicas têm feito com muita facilidade na última década. Mas este documentário nos mostra que a certeza de "possuir a verdade" pode levar rapidamente pessoas, sem dúvida bem-intencionadas, a mergulhar em um sectarismo odioso. [...]
Le Monde des religions, março-abril de 2007 — Repercutida e comentada por mais de 200 veículos de comunicação, a pesquisa da CSA sobre católicos franceses, publicada em nossa última edição, teve um impacto considerável e gerou inúmeras reações na França e no exterior. Até mesmo o Vaticano, na pessoa do Cardeal Poupard, reagiu, denunciando o "analfabetismo religioso" dos franceses. Gostaria de revisitar algumas dessas reações. Membros da Igreja apontaram, com razão, que a queda drástica no número de franceses que se declaram católicos (51% em comparação com 63% nas pesquisas mais recentes) se deveu principalmente à formulação da pergunta: "Qual é a sua religião, se você tem alguma?", em vez da frase mais comum: "A qual religião você pertence?". Esta última formulação se refere mais a um senso de pertencimento sociológico: Sou católico porque fui batizado. A formulação que adotamos pareceu muito mais relevante para medir a adesão pessoal, ao mesmo tempo que deixa mais aberta a possibilidade de se declarar "não religioso". É bastante claro, como tenho enfatizado repetidamente desde a publicação desta pesquisa, que há mais católicos batizados do que aqueles que se identificam como católicos. Uma pesquisa com uma formulação mais tradicional provavelmente apresentaria números diferentes. Mas o que é mais importante saber? O número de pessoas criadas na fé católica ou o número daqueles que se consideram católicos hoje? A forma como a pergunta é feita não é o único fator que influencia os resultados. Henri Tincq nos lembra que, em 1994, o instituto CSA fez exatamente a mesma pergunta para uma pesquisa publicada no Le Monde que para a pesquisa publicada em 2007 no Le Monde des Religions: 67% dos franceses se identificavam como católicos naquela época, demonstrando o declínio significativo ocorrido ao longo de doze anos. Muitos católicos — clérigos e leigos — também se sentiram desanimados com o declínio da fé na França, como evidenciado por uma série de estatísticas: entre aqueles que se identificam como católicos, apenas uma minoria permanece verdadeiramente comprometida com a fé. Não posso deixar de contextualizar esta pesquisa com o recente falecimento de dois grandes crentes, o dominicano Marie-Dominique Philippe e o Abade Pierre (1), que eram queridos amigos. Essas duas figuras católicas, de origens tão diferentes, essencialmente me disseram a mesma coisa: esse declínio, ao longo de vários séculos, do catolicismo como religião dominante poderia representar uma verdadeira oportunidade para a mensagem do Evangelho: ela poderia ser redescoberta de uma maneira mais autêntica, mais pessoal, mais vivida. Aos olhos do Abade Pierre, alguns poucos "crentes fervorosos" eram preferíveis a uma massa de crentes mornos cujas ações contradiziam o poder da mensagem cristã. O Padre Philippe acreditava que a Igreja, seguindo o exemplo de Cristo, precisava passar pela paixão da Sexta-feira Santa e pelo luto silencioso do Sábado Santo antes de vivenciar a transformação do Domingo de Páscoa. Esses crentes devotos não se deixaram abater pelo declínio da fé. Pelo contrário, eles viam nisso as possíveis sementes de uma grande renovação, um importante evento espiritual, que poria fim a mais de dezessete séculos de confusão entre fé e política, que distorcera a mensagem de Jesus: "Este é o meu novo mandamento: Amem-se uns aos outros como eu os amei". Como disse o teólogo Urs von Balthasar, "Só o amor é digno de fé". Isso explica a popularidade fenomenal do Abade Pierre e mostra que os franceses, mesmo que não se considerem católicos, permanecem extraordinariamente sensíveis à mensagem fundamental dos Evangelhos. [...]
Le Monde des religions, janeiro-fevereiro de 2007 — “França, filha primogênita da Igreja”. Essa frase, proferida em 1896 pelo Cardeal Langénieux, refere-se à realidade histórica de um país onde o cristianismo foi introduzido no século II e que, a partir do século IX, ofereceu o modelo de um povo vivendo em união em torno da fé católica, seus símbolos e o calendário litúrgico. É o que os historiadores chamam de “Cristandade”. Com a Revolução Francesa e, posteriormente, a separação entre Igreja e Estado em 1905, a França tornou-se um país laico, relegando a religião à esfera privada. Por inúmeras razões (êxodo rural, mudanças nos costumes sociais, ascensão do individualismo, etc.), o catolicismo vem perdendo progressivamente sua influência na sociedade desde então. Esse declínio acentuado é perceptível, em primeiro lugar, nas estatísticas da Igreja na França, que mostram uma queda constante nos batismos, casamentos e no número de sacerdotes (ver pp. 43-44). Isso fica evidente nas pesquisas de opinião, que destacam três indicadores: prática (frequência à missa), crença (em Deus) e afiliação (identificação como católico). Nos últimos quarenta anos, o indicador mais significativo de religiosidade, a frequência regular à missa, apresentou o declínio mais acentuado, afetando apenas 10% da população francesa em 2006. A crença em Deus, que se manteve relativamente estável até o final da década de 1960 (em torno de 75%), caiu para 52% em 2006. O indicador menos significativo, a afiliação, que engloba dimensões religiosas e culturais, permaneceu muito alta até o início da década de 1990 (em torno de 80%). Por sua vez, sofreu um declínio drástico nos últimos quinze anos, caindo para 69% em 2000, 61% em 2005, e nossa pesquisa revela que agora está em 51%. Surpresos com esse resultado, solicitamos ao instituto CSA que repetisse a pesquisa com uma amostra nacionalmente representativa de 2.012 pessoas com 18 anos ou mais. O resultado foi o mesmo. Essa queda se explica, em parte, pelo fato de 5% dos entrevistados terem se recusado a ser incluídos na lista de religiões oferecida pelos institutos de pesquisa (católica, protestante, ortodoxa, judaica, muçulmana, budista, sem religião, etc.) e terem respondido espontaneamente "cristã". Ao contrário da prática usual de incluir essa porcentagem na categoria "católica", listamos esse percentual separadamente. Consideramos significativo que pessoas de origem católica rejeitem essa afiliação, embora ainda se identifiquem como cristãs. De qualquer forma, cada vez menos franceses se identificam como católicos, enquanto um número crescente se descreve como "sem religião" (31%). Outras religiões, que representam minorias muito pequenas, permanecem relativamente estáveis (4% muçulmanas, 3% protestantes, 1% judaicas). Também é bastante informativa a pesquisa realizada com os 51% dos franceses que se identificam como católicos (ver pp. 23-28), que revela o quão distantes os fiéis estão do dogma. Não só um em cada dois católicos não acredita em Deus ou duvida de sua existência, como, entre os que acreditam, apenas 18% creem em um Deus pessoal (o que, aliás, é um dos fundamentos do cristianismo), enquanto 79% acreditam em uma força ou energia. O distanciamento da instituição é ainda maior quando se trata de questões relacionadas à moralidade ou à disciplina: 81% apoiam o casamento de padres e 79% apoiam a ordenação de mulheres. E apenas 7% consideram o catolicismo a única religião verdadeira. Os ensinamentos da Igreja, portanto, perderam quase toda a autoridade sobre os fiéis. Contudo, 76% têm uma opinião favorável da Igreja e 71% do Papa Bento XVI. Esse paradoxo bastante interessante demonstra que os católicos franceses, que estão se tornando minoria na população — e que certamente já se percebem como tal —, abraçam os valores dominantes de nossas sociedades modernas profundamente secularizadas, mas permanecem ligados, como qualquer minoria, ao seu ponto de identificação comunitária: a Igreja e seu principal símbolo, o Papa. Sejamos claros: não apenas em suas instituições, mas também em sua mentalidade, a França não é mais um país católico. É um país laico no qual o catolicismo permanece, e sem dúvida permanecerá por muito tempo, a religião mais importante. Para ilustrar: o que percebemos como a "retração" da população católica praticante é numericamente equivalente a toda a população francesa judaica, protestante e muçulmana (incluindo não crentes e não praticantes). [...]
O Mundo das Religiões, novembro-dezembro de 2006 — Desde a controvérsia em torno das caricaturas de Maomé, os sinais de tensão entre o Ocidente e o Islã têm se multiplicado. Ou melhor, entre uma parte do mundo ocidental e uma parte do mundo muçulmano. Mas essa série de crises levanta a questão: o Islã pode ser criticado? Muitos líderes muçulmanos, e não apenas fanáticos extremistas, querem que a crítica às religiões seja proibida pelo direito internacional em nome do respeito às crenças. Essa atitude é compreensível no contexto de sociedades onde a religião abrange tudo e onde o sagrado é o valor supremo. Mas as sociedades ocidentais há muito se secularizaram e separaram claramente a esfera religiosa da esfera política. Dentro dessa estrutura, o Estado garante a liberdade de consciência e de expressão para todos os cidadãos. Portanto, todos são livres para criticar partidos políticos, assim como religiões. Esse princípio permite que nossas sociedades democráticas permaneçam sociedades de liberdade. É por isso que, embora eu discorde das declarações de Robert Redeker contra o Islã, lutarei pelo seu direito de expressá-las e condeno nos termos mais fortes possíveis o terrorismo intelectual e as ameaças de morte que ele recebeu. Ao contrário do que Bento XVI afirmou, não foi a relação privilegiada do cristianismo com a razão grega, nem mesmo o discurso pacífico de seu fundador, que lhe permitiu renunciar à violência. A violência perpetrada pela religião cristã durante séculos — inclusive durante a era de ouro da teologia racional tomista — só cessou com o estabelecimento do Estado laico. Portanto, não há outro caminho para um Islã que pretenda integrar os valores modernos do pluralismo e da liberdade individual senão aceitar o laicismo e suas regras. Como explicamos em nosso último relatório sobre o Alcorão, isso implica uma releitura crítica das fontes textuais e da lei tradicional, o que muitos intelectuais muçulmanos estão fazendo. Sobre laicismo e liberdade de expressão, devemos ser inequívocos. Ceder à chantagem dos fundamentalistas também minaria as esperanças e os esforços de todos os muçulmanos ao redor do mundo que aspiram a viver em um espaço de liberdade e laicidade. Dito isso, e com a máxima firmeza, estou convencido de que devemos adotar uma postura responsável e falar sobre o Islã de forma racional. No contexto atual, insultos, provocações e imprecisões só servem para agradar seus autores e tornar a tarefa dos muçulmanos moderados ainda mais difícil. Quando alguém se lança em uma crítica simplista e infundada ou em uma diatribe violenta contra o Islã, certamente provocará uma reação ainda mais violenta por parte dos extremistas. Pode-se então concluir: "Viram? Eu estava certo". O problema é que, para cada três fanáticos que respondem dessa forma, existem 97 muçulmanos que praticam sua fé pacificamente ou simplesmente se apegam à sua cultura de origem, que são duplamente feridos por esses comentários e pela reação dos extremistas, que pinta uma imagem desastrosa de sua religião. Para ajudar o Islã a se modernizar, o diálogo crítico, racional e respeitoso é cem vezes melhor do que injúrias e declarações caricaturais. Eu acrescentaria que a prática de generalizações é igualmente prejudicial. As fontes do Islã são diversas, o próprio Alcorão é multifacetado, as interpretações são inúmeras ao longo da história, e os muçulmanos hoje são igualmente diversos em sua relação com a religião. Portanto, evitemos generalizações redutivas. Nosso mundo se tornou uma aldeia. Precisamos aprender a conviver com nossas diferenças. Vamos dialogar, de ambos os lados, com o objetivo de construir pontes e não com a meta, atualmente em voga, de erguer muros. [...]
Le Monde des religions, setembro-outubro de 2006 — O Evangelho de Judas foi o best-seller internacional do verão (1). Um destino extraordinário para este papiro copta, desenterrado das areias após dezessete séculos de esquecimento, cuja existência era anteriormente conhecida apenas pela obra de Santo Irineu Contra as Heresias (180). Trata-se, portanto, de uma importante descoberta arqueológica (2). Contudo, não oferece nenhuma revelação sobre os momentos finais da vida de Jesus, e há pouca probabilidade de que este pequeno livro "agite a Igreja", como proclama a editora na contracapa. Primeiro, porque o autor deste texto, escrito em meados do século II, não é Judas, mas um grupo gnóstico que atribuiu a história ao apóstolo de Cristo para lhe conferir mais significado e autoridade (uma prática comum na Antiguidade). Em segundo lugar, porque desde a descoberta de Nag Hammadi (1945), que revelou uma verdadeira biblioteca gnóstica incluindo numerosos evangelhos apócrifos, temos uma compreensão muito melhor do gnosticismo cristão e, em última análise, O Evangelho de Judas não lança nenhuma nova luz sobre o pensamento desse movimento esotérico. Seu sucesso meteórico, perfeitamente orquestrado pela National Geographic, que comprou os direitos mundiais, deve-se certamente ao seu título extraordinário: "O Evangelho de Judas". Uma combinação de palavras impressionante, impensável e subversiva. A ideia de que aquele que os quatro Evangelhos canônicos e a tradição cristã apresentaram por dois mil anos como "o traidor", "o perverso", "o lacaio de Satanás" que vendeu Jesus por um punhado de prata, pudesse ter escrito um evangelho é intrigante. O fato de ele querer contar sua versão dos eventos numa tentativa de dissipar o estigma que lhe era atribuído também é maravilhosamente convincente, assim como o fato de este evangelho perdido ter sido redescoberto após tantos séculos de esquecimento. Em suma, mesmo sem conhecer o conteúdo deste pequeno livro, é impossível não se fascinar por um título como este. Isso se torna ainda mais evidente, como demonstra claramente o sucesso de O Código Da Vinci, visto que nossa época questiona a narrativa oficial das instituições religiosas sobre as origens do cristianismo e que a figura de Judas, assim como a de tantas outras vítimas ou adversários derrotados da Igreja Católica, está sendo resgatada pela arte e literatura contemporâneas. Judas é um herói moderno, um homem comovente e sincero, um amigo desiludido que, em última análise, foi instrumento da vontade divina. Pois como Cristo poderia ter realizado sua obra de salvação universal se não tivesse sido traído por esse infeliz homem? O Evangelho atribuído a Judas tenta resolver esse paradoxo, fazendo Jesus afirmar explicitamente que Judas é o maior dos apóstolos, pois é ele quem permitirá a sua morte: “Mas tu ultrapassarás a todos! Porque sacrificarás o homem que me serve de receptáculo físico” (56). Esta afirmação resume apropriadamente o pensamento gnóstico: o mundo, a matéria e o corpo são obra de um deus maligno (o dos judeus e do Antigo Testamento); o objetivo da vida espiritual consiste, por meio de iniciação secreta, em permitir que os raros escolhidos que possuem uma alma divina imortal, emanada do Deus bom e incognoscível, a libertem da prisão do corpo. É curioso notar que nossos contemporâneos, enamorados da tolerância, bastante materialistas e que criticam o cristianismo por seu desprezo pela carne, estejam tão encantados com um texto de uma escola de pensamento que foi condenada em seu tempo pelas autoridades da Igreja por seu sectarismo e por considerar o universo material e o corpo físico uma abominação. 1. O Evangelho de Judas, traduzido e comentado por R. Kasser, M. Meyer e G. Wurst, Flammarion, 2006, 221 pp., €15. 2. Ver Le Monde des Religions, nº. 18. [...]
O Mundo das Religiões, julho-agosto de 2006 — Uma das principais razões para o apelo do budismo no Ocidente reside na personalidade carismática do Dalai Lama e em seu discurso, que se concentra em valores fundamentais como tolerância, não violência e compaixão. Esse discurso fascina por sua ausência de proselitismo, uma característica raramente encontrada em religiões monoteístas: "Não se convertam, permaneçam em sua religião", diz o mestre tibetano. Seria esse um discurso superficial, destinado, em última análise, a seduzir os ocidentais? Essa pergunta já me foi feita muitas vezes. Responderei relatando uma experiência que tive e que me comoveu profundamente. Foi há alguns anos em Dharamsala, na Índia. O Dalai Lama havia combinado um encontro comigo para o lançamento de um livro. Uma reunião de uma hora. No dia anterior, no hotel, conheci um budista inglês, Peter, e seu filho de 11 anos, Jack. A esposa de Peter havia falecido alguns meses antes, após uma longa doença e muito sofrimento. Jack havia expressado o desejo de conhecer o Dalai Lama. Então Peter escreveu para ele e conseguiu uma audiência de cinco minutos, tempo suficiente apenas para uma bênção. Pai e filho ficaram radiantes. No dia seguinte, encontrei-me com o Dalai Lama; Peter e Jack foram recebidos logo depois de mim. Eu esperava que eles voltassem para o hotel rapidamente: eles só chegaram no final do dia, completamente transtornados. O encontro deles durou duas horas. Eis o que Peter me contou sobre isso: "Primeiro, contei ao Dalai Lama sobre a morte da minha esposa e desabei em lágrimas. Ele me abraçou, ficou comigo por um longo tempo enquanto eu chorava e, em seguida, conversou com meu filho. Depois, perguntou-me sobre minha religião: contei-lhe sobre minha herança judaica e a deportação da minha família para Auschwitz, que eu havia reprimido." Uma ferida profunda se reabriu dentro de mim, a emoção me dominou e chorei novamente. O Dalai Lama me abraçou. Senti suas lágrimas de compaixão: ele chorava comigo, tanto quanto eu. Permaneci em seus braços por um longo tempo. Então, falei com ele sobre minha jornada espiritual: meu desinteresse pelo judaísmo, minha descoberta de Jesus através da leitura dos Evangelhos, minha conversão ao cristianismo que, vinte anos atrás, foi a grande luz da minha vida. Depois, minha decepção por não encontrar a mesma força da mensagem de Jesus na Igreja Anglicana, meu afastamento gradual, minha profunda necessidade de uma espiritualidade que me ajude a viver e minha descoberta do budismo, que pratico há vários anos em sua forma tibetana. Quando terminei, o Dalai Lama permaneceu em silêncio. Então, voltou-se para seu secretário e falou com ele em tibetano. O secretário saiu e voltou com um ícone de Jesus. Fiquei atônito. O Dalai Lama me entregou o ícone, dizendo: “Buda é o meu caminho, Jesus é o seu caminho”. Chorei pela terceira vez. De repente, redescobri todo o amor que senti por Jesus na época da minha conversão, vinte anos antes. Compreendi que eu havia permanecido cristão. Eu buscava no budismo um apoio para a meditação, mas, no fundo, nada me comovia mais do que a pessoa de Jesus. Em menos de duas horas, o Dalai Lama me reconciliou comigo mesmo e curou feridas profundas. Ao partir, prometeu a Jack que o veria sempre que viesse à Inglaterra. Jamais esquecerei esse encontro e os rostos transformados desse pai e filho, que me revelaram que a compaixão do Dalai Lama não é uma palavra vazia e que não é de forma alguma inferior à dos santos cristãos. Le Monde des religions, julho-agosto de 2006. [...]
Le Monde des religions, maio-junho de 2006 — Depois do romance, o filme. O lançamento francês de O Código Da Vinci, em 17 de maio, certamente reacenderá as especulações sobre os motivos do sucesso mundial do romance de Dan Brown. A questão é interessante, talvez até mais do que o próprio romance. Para os fãs de thrillers históricos — e eu me incluo entre eles — há quase unanimidade: O Código Da Vinci não é uma obra clássica. Construído como um livro de suspense, ele certamente prende a atenção desde as primeiras páginas, e os dois primeiros terços do livro são um prazer de ler, apesar do estilo apressado e da falta de credibilidade e profundidade psicológica dos personagens. Depois, a trama perde fôlego antes de desmoronar em um final absurdo. Os mais de 40 milhões de exemplares vendidos e a incrível paixão que este livro inspira em muitos de seus leitores são, portanto, mais uma questão de explicação sociológica do que de análise literária. Sempre achei que a chave para esse entusiasmo reside no breve prefácio do escritor americano, que especifica que seu romance é baseado em certos eventos reais, incluindo a existência do Opus Dei (o que é de conhecimento geral) e o famoso Priorado de Sião, essa sociedade secreta supostamente fundada em Jerusalém em 1099, da qual Leonardo da Vinci teria sido o Grão-Mestre. Melhor ainda: "pergaminhos" depositados na Biblioteca Nacional supostamente comprovam a existência desse famoso priorado. Toda a trama do romance gira em torno dessa irmandade oculta, que supostamente guardava um segredo explosivo que a Igreja tenta esconder desde suas origens: o casamento de Jesus e Maria Madalena e o papel central das mulheres na Igreja primitiva. Essa teoria não é nova. Mas Dan Brown conseguiu tirá-la dos círculos feministas e esotéricos e apresentá-la ao público em geral na forma de um romance policial que alega ser baseado em fatos históricos desconhecidos por quase todos. A técnica é inteligente, mas enganosa. O Priorado de Sião foi fundado em 1956 por Pierre Plantard, um fabulista antissemita que se considerava descendente dos reis merovíngios. Quanto aos famosos "pergaminhos" depositados na Biblioteca Nacional, são, na verdade, páginas datilografadas comuns, escritas no final da década de 1960 por esse mesmo homem e seus comparsas. Ainda assim, para milhões de leitores, e talvez em breve para espectadores, O Código Da Vinci representa uma verdadeira revelação: o papel central das mulheres no início do cristianismo e a conspiração orquestrada pela Igreja no século IV para restaurar o poder aos homens. Teorias da conspiração, por mais abomináveis que sejam — basta pensar nos infames Protocolos dos Sábios de Sião — infelizmente ainda encontram eco em um público cada vez mais desconfiado das instituições oficiais, tanto religiosas quanto acadêmicas. Mas, por mais falha que seja sua demonstração histórica e questionável seu verniz conspiratório, a tese do sexismo na Igreja é ainda mais atraente porque também se baseia em um fato inegável: somente os homens detêm o poder dentro da Igreja Católica e, desde Paulo e Agostinho, a sexualidade tem sido desvalorizada. É compreensível, portanto, que muitos cristãos, frequentemente religiosos e antissociais, tenham sido seduzidos pela tese iconoclasta de Dan Brown e embarcado nessa nova busca pelo Santo Graal dos tempos modernos: a redescoberta de Maria Madalena e o lugar apropriado da sexualidade e da feminilidade na religião cristã. Uma vez deixado de lado o absurdo browniano, não é, afinal, uma bela busca? Le Monde des religions, maio-junho de 2006. [...]
O Mundo das Religiões, março-abril de 2006 — Podemos rir das religiões? No Mundo das Religiões, onde somos constantemente confrontados com essa pergunta, respondemos que sim, cem vezes sim. Crenças e comportamentos religiosos não estão acima do humor, não estão acima do riso e da caricatura crítica, e por isso optamos, desde o início, sem hesitar, por incluir charges humorísticas nesta revista. Existem salvaguardas para conter as transgressões mais graves: leis que condenam o racismo e o antissemitismo, a incitação ao ódio e a difamação de indivíduos. Seria, portanto, apropriado publicar tudo o que não se enquadra na lei? Não creio. Sempre nos recusamos a publicar charges estúpidas e maliciosas que não oferecem nenhuma mensagem instigante, mas que visam apenas ferir ou distorcer gratuitamente uma crença religiosa, ou que generalizam todos os fiéis de uma religião, por exemplo, através da figura de seu fundador ou de seu símbolo emblemático. Publicamos charges denunciando padres pedófilos, mas não charges que retratam Jesus como um predador pedófilo. A mensagem teria sido: todos os cristãos são pedófilos em potencial. Da mesma forma, caricaturamos imãs e rabinos fanáticos, mas jamais publicaremos uma charge mostrando Maomé como fabricante de bombas ou Moisés como assassino de crianças palestinas. Recusamo-nos a insinuar que todos os muçulmanos são terroristas ou que todos os judeus são assassinos de inocentes. Gostaria de acrescentar que um editor de jornal não pode ignorar as questões contemporâneas. Sua responsabilidade moral e política vai além da estrutura legal democrática. Ser responsável não se resume a respeitar a lei. Trata-se também de compreensão e consciência política. Publicar charges islamofóbicas no clima atual alimenta tensões desnecessariamente e beneficia extremistas de todos os tipos. Certamente, represálias violentas são inaceitáveis. Além disso, elas apresentam uma imagem muito mais caricatural do Islã do que qualquer uma das charges em questão, e muitos muçulmanos estão profundamente tristes com isso. Certamente, não podemos mais aceitar submeter-nos às regras de uma cultura que proíbe qualquer crítica à religião. Certamente, não podemos esquecer nem tolerar a violência das caricaturas antissemitas publicadas quase diariamente na maioria dos países árabes. Mas nenhuma dessas razões deve servir de desculpa para adotarmos uma atitude provocativa, agressiva ou desdenhosa: isso seria desconsiderar os valores humanistas, sejam eles de inspiração religiosa ou secular, que sustentam a civilização que orgulhosamente reivindicamos como nossa. E se a verdadeira divisão, ao contrário do que nos fazem crer, não for entre o Ocidente e o mundo muçulmano, mas sim entre aqueles, em cada um desses dois mundos, que desejam o confronto e atiçam as chamas, ou, ao contrário, aqueles que, sem negar ou minimizar as diferenças culturais, se esforçam para estabelecer um diálogo crítico e respeitoso — isto é, um diálogo construtivo e responsável? (Le Monde des religions, março-abril de 2006). [...]
Le Monde des Religions, janeiro-fevereiro de 2006 — Há apenas um ano, em janeiro de 2005, foi lançado o novo formato de Le Monde des Religions. Isso me dá a oportunidade de discutir a evolução editorial e comercial da revista. Esse novo formato tem dado frutos, pois nossa publicação apresentou um crescimento significativo. A circulação média da revista em 2004 (sob o formato anterior) era de 38.000 exemplares por edição. Em 2005, chegou a 55.000 exemplares, representando um aumento de 45%. Tínhamos 25.000 assinantes no final de 2004; hoje temos 30.000. Mas foram sobretudo as vendas em bancas de jornal que deram um salto espetacular, passando de uma média de 13.000 exemplares por edição em 2004 para 25.000 exemplares em 2005. No clima bastante sombrio da imprensa francesa — a maioria dos títulos está em declínio —, esse crescimento é realmente excepcional. Portanto, expresso meus mais sinceros agradecimentos a todos os nossos assinantes e leitores fiéis que garantiram o sucesso de Le Monde des Religions. No entanto, não devemos declarar vitória prematuramente, pois ainda estamos no limiar da viabilidade, que é superior a 60.000 exemplares. Contamos, portanto, com a sua lealdade e com o seu desejo de divulgar Le Monde des Religions para garantir a continuidade da publicação. Muitos de vocês nos escreveram para nos encorajar ou compartilhar suas críticas, e agradeço-lhes sinceramente por isso. Levei em consideração alguns dos seus comentários para aprimorar ainda mais a revista. Vocês notarão nesta edição que a seção "Notícias" foi removida. De fato, nossa periodicidade bimestral e os prazos bastante apertados para a finalização da edição (aproximadamente um mês antes da publicação) não nos permitem acompanhar o ritmo dos acontecimentos atuais. Assim, demos continuidade à lógica iniciada com o novo formato, substituindo as páginas de "Notícias" por um artigo principal de seis páginas, que aparecerá no início da revista, imediatamente após o editorial, e será um relato histórico ou uma investigação sociológica. Isso atende à demanda de muitos leitores por artigos mais aprofundados e extensos. Após esse artigo principal, haverá uma seção "Fórum", o espaço interativo da revista, que dará ainda mais espaço às cartas dos leitores, perguntas para Odon Vallet, reações e colunas de figuras proeminentes, bem como charges humorísticas de diversos artistas (Chabert e Valdor precisam de um descanso). Consequentemente, a entrevista aprofundada agora fica no final da revista. Gostaria também de aproveitar esta oportunidade, neste primeiro aniversário, para agradecer a todos que lutaram para que Le Monde des Religions crescesse, a começar por Jean-Marie Colombani, sem o qual esta publicação não existiria e que sempre nos deu seu apoio e confiança. Agradecemos também às equipes da Malesherbes Publications e seus sucessivos diretores, que nos ajudaram e apoiaram em nosso desenvolvimento, bem como às equipes de vendas do Le Monde, que investiram com sucesso em promoção e vendas em bancas de jornal. Por fim, agradecemos à pequena equipe do Le Monde des Religions, bem como aos colunistas e jornalistas freelancers associados a ela, que trabalham com entusiasmo para oferecer a vocês uma melhor compreensão das religiões e da sabedoria da humanidade. [...]
Le Monde des religions, novembro-dezembro de 2005 — Embora eu relute em discutir nestas páginas uma obra da qual sou coautor, não posso deixar de mencionar o último livro do Abade Pierre, que aborda temas de grande atualidade e que provavelmente suscitará muitas paixões. *Durante quase um ano, compilei as reflexões e perguntas do fundador de Emaús sobre uma ampla gama de temas — do fanatismo religioso ao problema do mal, incluindo a Eucaristia e o pecado original. Dos vinte e oito capítulos, cinco são dedicados a questões de moralidade sexual. Dada a rigidez de João Paulo II e Bento XVI sobre este assunto, as observações do Abade Pierre parecem revolucionárias. Contudo, se lermos atentamente o que ele diz, veremos que o fundador de Emaús se mostra bastante ponderado. Ele expressou apoio à ordenação de homens casados, mas afirmou veementemente a necessidade de manter o celibato consagrado. Não condenou as uniões entre pessoas do mesmo sexo, mas desejava que o casamento permanecesse uma instituição social reservada aos heterossexuais. Ele acreditava que Jesus, sendo plenamente humano, necessariamente experimentou o poder do desejo sexual, mas também afirmou que nada no Evangelho nos permite determinar se ele cedeu ou não a esse desejo. Finalmente, em uma área um tanto diferente, mas igualmente sensível, ele observou que nenhum argumento teológico decisivo parece se opor à ordenação de mulheres e que essa questão decorre principalmente da evolução de atitudes, que têm sido marcadas até hoje por um certo desprezo pelo "sexo frágil". Embora as observações do Abade Pierre certamente causem alvoroço dentro da Igreja Católica, isso não se deve ao fato de tenderem a absolver o relativismo moral de nossa época (o que seria uma grosseira deturpação), mas sim porque abrem uma discussão sobre o tema verdadeiramente tabu da sexualidade. E é porque esse debate foi congelado por Roma que as observações e perguntas do Abade Pierre são cruciais para alguns e perturbadoras para outros. Testemunhei esse debate dentro da própria Emaús antes da publicação do livro, quando o Abade Pierre compartilhou o manuscrito com aqueles ao seu redor. Alguns se mostraram entusiasmados, outros desconfortáveis e críticos. Gostaria também de prestar homenagem aqui aos vários líderes de Emaús que, independentemente de suas opiniões, respeitaram a decisão de seu fundador de publicar o livro tal como estava. A um deles, que expressou preocupação com o espaço considerável dedicado à sexualidade no livro — e ainda mais com a forma como a mídia o abordaria —, o Abade Pierre salientou que essas questões de moralidade sexual ocupam, na verdade, um espaço muito pequeno nos Evangelhos. Mas foi justamente porque a Igreja atribuía grande importância a esses temas que ele se sentiu compelido a abordá-los, visto que muitos cristãos e não cristãos ficaram chocados com as posições intransigentes do Vaticano sobre problemas que não dizem respeito aos fundamentos da fé e que merecem um debate genuíno. Concordo plenamente com o ponto de vista do fundador de Emaús. Acrescentaria: se os Evangelhos — aos quais dedicamos esta edição — não se detêm nessas questões, é porque seu propósito primordial não é estabelecer uma moralidade individual ou coletiva, mas abrir o coração de cada pessoa a um abismo capaz de transformar e reorientar sua vida. Ao se concentrar demasiadamente em dogmas e normas em detrimento da simples proclamação da mensagem de Jesus: "Sede misericordiosos" e "Não julgueis", não teria a Igreja se tornado, para muitos de nossos contemporâneos, um verdadeiro obstáculo à descoberta da pessoa e da mensagem de Cristo? Talvez ninguém esteja em melhor posição hoje do que o Abade Pierre, que por setenta anos tem sido uma das principais testemunhas da mensagem do Evangelho, para se preocupar com isso. *Abade Pierre, com Frédéric Lenoir, "Meu Deus... Por quê?" Breves Meditações sobre a Fé Cristã e o Sentido da Vida, Plon, 27 de outubro de 2005. [...]
Le Monde des religions, setembro-outubro de 2005 — “Por que o século XXI é religioso”. O título da matéria principal desta edição de volta às aulas ecoa a famosa frase atribuída a André Malraux: “O século XXI será religioso ou não será”. A frase é certeira. Repetida por todos os meios de comunicação nos últimos vinte anos, às vezes é parafraseada como “o século XXI será espiritual ou não será”. Já presenciei debates acalorados entre defensores das duas citações. Uma batalha fútil… já que Malraux jamais proferiu essa frase! Não há qualquer vestígio da frase em seus livros, suas anotações manuscritas, seus discursos ou suas entrevistas. Mais revelador ainda, o próprio Malraux negou consistentemente essa citação quando ela começou a ser atribuída a ele em meados da década de 1950. Nosso amigo e colega Michel Cazenave, entre outras pessoas próximas a Malraux, nos lembrou disso recentemente. Então, o que exatamente disse o grande escritor que levou as pessoas a atribuir-lhe tal profecia? Tudo parece ter girado em torno de dois textos de 1955. Respondendo a uma pergunta enviada pelo jornal dinamarquês Dagliga Nyhiter sobre o fundamento religioso da moralidade, Malraux concluiu sua resposta assim: “Durante cinquenta anos, a psicologia tem reintegrado demônios ao homem. Esta é a avaliação séria da psicanálise. Penso que a tarefa do próximo século, diante da ameaça mais terrível que a humanidade já conheceu, será reintroduzir os deuses.” Em março do mesmo ano, a revista Preuves publicou duas republicações de entrevistas que haviam aparecido em 1945 e 1946, complementando-as com um questionário enviado ao autor de O Destino do Homem. Ao final desta entrevista, Malraux declarou: “O problema crucial do final do século será o problema religioso — numa forma tão diferente da que conhecemos quanto o cristianismo era das religiões antigas.” "Foi a partir dessas duas citações que a famosa fórmula foi construída — embora não saibamos por quem. No entanto, essa fórmula é altamente ambígua. Pois o 'retorno da religião' que estamos testemunhando, particularmente em sua forma fundamentalista e baseada na identidade, é a antítese da religião à qual o ex-ministro da Cultura do General de Gaulle alude. A segunda citação é, a esse respeito, perfeitamente explícita: Malraux anuncia o advento de uma problemática religiosa radicalmente diferente das do passado. Em inúmeros outros textos e entrevistas, ele clama, à maneira do 'suplemento da alma' de Bergson, por um grande evento espiritual que resgate a humanidade do abismo em que mergulhou durante o século XX (veja sobre o assunto o excelente livrinho de Claude Tannery, *O Legado Espiritual de Malraux* – Arléa, 2005)." Para a mente agnóstica de Malraux, esse evento espiritual não era de forma alguma um apelo a um renascimento das religiões tradicionais. Malraux acreditava que as religiões eram tão mortais quanto as civilizações o eram para Valéry. Mas, para ele, elas cumpriam uma função positiva fundamental, que continuará a operar: a de criar deuses que são "as tochas acesas uma a uma pela humanidade para iluminar o caminho que a afasta da besta". Quando Malraux afirma que "a tarefa do século XXI será reintroduzir os deuses na humanidade", ele está, portanto, clamando por uma nova onda de religiosidade, mas uma que virá das profundezas do espírito humano e caminhará na direção de uma integração consciente do divino na psique — como os demônios da psicanálise — e não uma projeção do divino para o exterior, como frequentemente acontecia com as religiões tradicionais. Em outras palavras, Malraux aguardava o advento de uma nova espiritualidade, uma que incorporasse a humanidade, uma espiritualidade que talvez estivesse nascendo, mas que ainda se encontrava amplamente sufocada, no início deste século, pela fúria do choque de identidades religiosas tradicionais. PS 1: Tenho o prazer de anunciar a nomeação de Djénane Kareh Tager como editora-chefe de Le Monde des Religions (anteriormente, ela atuava como secretária editorial). PS 2: Gostaria de informar nossos leitores sobre o lançamento de uma nova série de edições especiais altamente educativas de Le Monde des Religions: "20 Chaves para a Compreensão". A primeira delas aborda as religiões do antigo Egito (veja a página 7)
[...]
O Mundo das Religiões, julho-agosto de 2005. Harry Potter, O Código Da Vinci, O Senhor dos Anéis, O Alquimista: os maiores sucessos literários e cinematográficos da última década têm algo em comum: satisfazem nossa necessidade de maravilhamento. Repletos de enigmas sagrados, fórmulas mágicas, fenômenos estranhos e segredos terríveis, eles saciam nosso gosto pelo mistério, nossa fascinação pelo inexplicável. Pois este é, de fato, o paradoxo da nossa ultramodernidade: quanto mais a ciência avança, mais precisamos de sonhos e mitos. Quanto mais o mundo parece decifrável e racionalizável, mais buscamos restaurar sua aura mágica. Atualmente, testemunhamos uma tentativa de reencantar o mundo… precisamente porque o mundo foi desencantado. Carl Gustav Jung ofereceu uma explicação há meio século: os seres humanos precisam da razão tanto quanto da emoção, da ciência tanto quanto do mito, dos argumentos tanto quanto dos símbolos. Por quê? Simplesmente porque a humanidade não é apenas um ser racional. Nós também nos conectamos com o mundo através do desejo, da sensibilidade, do coração e da imaginação. Somos nutridos tanto por sonhos quanto por explicações lógicas, por poesia e lendas tanto quanto por conhecimento objetivo. O erro do cientificismo europeu, herdado do século XIX (mais do que do Iluminismo), foi negar isso. Acreditava-se que a parte irracional da humanidade poderia ser erradicada e que tudo poderia ser explicado segundo a lógica cartesiana. A imaginação e a intuição eram desprezadas. O mito foi relegado ao status de fábula infantil. As igrejas cristãs, em certa medida, seguiram a crítica racionalista. Privilegiaram um discurso dogmático e normativo — apelando à razão — em detrimento da transmissão de uma experiência interior — ligada ao coração — ou do conhecimento simbólico que fala à imaginação. Assim, testemunhamos hoje um retorno do reprimido. Os leitores de Dan Brown são principalmente cristãos que buscam em seus thrillers esotéricos o mistério, o mito e o simbolismo que não encontram mais em suas igrejas. Os fãs de O Senhor dos Anéis, assim como os ávidos leitores de Bernard Werber, são frequentemente jovens adultos com uma sólida formação científica e técnica, mas que também anseiam por mundos fantásticos inspirados por mitologias diferentes das de nossas religiões, das quais se distanciaram consideravelmente. Devemos nos preocupar com esse ressurgimento do mito e do deslumbramento? Certamente que não, desde que isso não constitua, por sua vez, uma rejeição da razão e da ciência. As religiões, por exemplo, deveriam dar maior ênfase a essa necessidade de emoção, mistério e simbolismo, sem abandonar a profundidade de seus ensinamentos morais e teológicos. Os leitores de O Código Da Vinci podem se comover com a magia do romance e com os grandes mitos do esoterismo (o segredo dos Templários, etc.) sem aceitar as teses do autor ao pé da letra ou rejeitar o conhecimento histórico em nome de uma teoria da conspiração completamente fictícia. Em outras palavras, tudo se resume a encontrar o equilíbrio certo entre desejo e realidade, emoção e razão. Os seres humanos precisam de admiração para serem plenamente humanos, mas não devem confundir seus sonhos com a realidade. (Le Monde des religions, julho-agosto de 2005). [...]
Le Monde des religions, maio-junho de 2005 — Pensador, místico e papa de carisma excepcional, Karol Wojtyla deixa, no entanto, um legado ambíguo para seu sucessor. João Paulo II derrubou muitos muros, mas ergueu outros. Este longo e paradoxal pontificado, marcado pela abertura, particularmente em relação a outras religiões, e pelo fechamento doutrinal e disciplinar, será, sem dúvida, um dos capítulos mais importantes da história da Igreja Católica e talvez da própria história. Enquanto escrevo estas linhas, os cardeais se preparam para eleger o sucessor de João Paulo II. Seja quem for o novo papa, ele enfrentará inúmeros desafios. Estas são as principais questões para o futuro do catolicismo que abordamos nesta edição especial. Não revisitarei as análises e os inúmeros pontos levantados nestas páginas por Régis Debray, Jean Mouttapa, Henri Tincq, François Thual e Odon Vallet, nem as observações de vários representantes de outras religiões e denominações cristãs. Chamarei a atenção, simplesmente, para um aspecto. Um dos principais desafios para o catolicismo, assim como para qualquer outra religião, é atender às necessidades espirituais de nossos contemporâneos. Essas necessidades se expressam atualmente de três maneiras que divergem bastante da tradição católica, o que tornará a tarefa dos sucessores de João Paulo II extremamente difícil. De fato, desde o Renascimento, temos testemunhado um movimento duplo de individualização e globalização, que vem se acelerando constantemente nos últimos trinta anos. A consequência na esfera religiosa é que os indivíduos tendem a construir sua espiritualidade pessoal recorrendo ao acervo global de símbolos, práticas e doutrinas. Um ocidental hoje pode facilmente se identificar como católico, ser tocado pela pessoa de Jesus, frequentar a missa ocasionalmente, mas também praticar meditação zen, acreditar na reencarnação e ler místicos sufistas. O mesmo se aplica a um sul-americano, um asiático ou um africano, que também há muito tempo se sentem atraídos por um sincretismo religioso entre o catolicismo e as religiões tradicionais. Essa "bricolagem simbólica", essa prática de "desvio religioso", está se tornando cada vez mais comum, e é difícil entender como a Igreja Católica pode impor a seus fiéis uma observância estrita do dogma e da prática aos quais está tão profundamente ligada. Outro desafio colossal é o ressurgimento do pensamento irracional e mágico. O processo de racionalização, que há muito tempo atua no Ocidente e permeou profundamente o cristianismo, está agora produzindo uma reação contrária: a repressão da imaginação e do pensamento mágico. No entanto, como Régis Debray nos lembra aqui, quanto mais o mundo se torna tecnológico e racionalizado, mais ele dá origem, em compensação, a uma demanda pelo afetivo, pelo emocional, pelo imaginativo e pelo mítico. Daí o sucesso do esoterismo, da astrologia, do paranormal e o desenvolvimento de práticas mágicas dentro das próprias religiões históricas — como o renascimento do culto aos santos no catolicismo e no islamismo. A essas duas tendências soma-se um fenômeno que subverte a perspectiva tradicional do catolicismo: nossos contemporâneos estão muito menos preocupados com a felicidade na vida após a morte do que com a felicidade terrena. Toda a abordagem pastoral cristã se transforma, portanto: o foco não está mais no céu e no inferno, mas na felicidade de se sentir salvo agora, por ter encontrado Jesus em uma comunhão emocional. Seções inteiras do Magistério permanecem em desacordo com essa evolução, que prioriza o significado e a emoção em detrimento da fiel adesão ao dogma e às normas. Práticas sincréticas e mágicas voltadas para a felicidade terrena: isso é precisamente o que caracterizava o paganismo da Antiguidade, herdeiro das religiões da pré-história (veja nosso dossiê), contra as quais a Igreja lutou tanto para se estabelecer. O arcaico está retornando com força na ultramodernidade. Este é provavelmente o maior desafio que o cristianismo terá de enfrentar no século XXI. [...]
Le Monde des religions, março-abril de 2005 — Se o diabo existe ou não é irrelevante. O que é inegável é que ele está retornando. Na França e em todo o mundo. Não de forma espetacular e dramática, mas de maneira difusa e multifacetada. Uma série de sinais aponta para esse retorno surpreendente. Profanações de cemitérios, mais frequentemente satânicas do que racistas, multiplicaram-se em todo o mundo na última década. Na França, mais de três mil túmulos judeus, cristãos ou muçulmanos foram profanados nos últimos cinco anos, o dobro do número da década anterior. Embora apenas 18% dos franceses acreditem na existência do diabo, os menores de 24 anos são os mais numerosos (27%) entre aqueles que compartilham essa crença. E 34% deles acreditam que um indivíduo pode ser possuído por um demônio (1). A crença no inferno chegou a dobrar entre os menores de 28 anos nas últimas duas décadas (2). Nossa pesquisa mostra que grandes parcelas da cultura adolescente — gótica, música metal — estão repletas de referências a Satanás, a figura rebelde por excelência que se opôs ao Pai. Devemos interpretar esse mundo mórbido e, por vezes, violento como simplesmente a manifestação normal de uma necessidade de rebeldia e provocação? Ou devemos explicá-lo pela proliferação de filmes, quadrinhos e videogames com o diabo e seus asseclas? Nas décadas de 1960 e 70, os adolescentes — e eu era um deles — estavam mais inclinados a expressar sua diferença e rebeldia por meio da rejeição da sociedade de consumo. Gurus indianos e a música etérea do Pink Floyd nos fascinavam mais do que Belzebu e o heavy metal hiperviolento. Não deveríamos ver nessa fascinação pelo mal um reflexo da violência e dos medos de nossa época, marcada por uma ruptura dos valores tradicionais e dos laços sociais, e por uma profunda ansiedade em relação ao futuro? Como nos lembra Jean Delumeau, a história mostra que é durante períodos de grande medo que o diabo retorna ao primeiro plano. Não seria essa também a razão para o retorno de Satanás à política? Reintroduzido pelo Aiatolá Khomeini quando denunciou o Grande Satanás Americano, a referência ao diabo e a demonização explícita do oponente político foram retomadas por Ronald Reagan, Bin Laden e George Bush. Este último, aliás, simplesmente se inspira no considerável ressurgimento da popularidade de Satanás entre os evangélicos americanos, que intensificam suas práticas de exorcismo e denunciam um mundo subjugado pelas forças do Mal. Desde Paulo VI, que falou da "fumaça de Satanás" para descrever a crescente secularização dos países ocidentais, a Igreja Católica, que há muito se distanciara do diabo, não fica atrás. E, como sinal dos tempos, o Vaticano acaba de criar um seminário de exorcismo na prestigiosa Pontifícia Universidade Regina Apostolorum. Todos esses sinais justificam não apenas uma investigação minuciosa sobre o retorno do diabo, mas também sobre sua identidade e papel. Quem é o diabo? Como ele apareceu nas religiões? O que a Bíblia e o Alcorão dizem sobre ele? Por que as religiões monoteístas têm uma necessidade maior dessa figura que personifica o mal absoluto do que as religiões xamânicas, politeístas ou asiáticas? Além disso, como a psicanálise pode lançar luz sobre essa figura, sobre sua função psíquica, e permitir uma estimulante reinterpretação simbólica do diabo bíblico? Pois, se, segundo sua etimologia, o "símbolo" — sumbolon — é "aquilo que une", o "diabo" — diabolon — é "aquilo que divide". Uma coisa me parece certa: somente identificando nossos medos e nossas "divisões", tanto individuais quanto coletivas, trazendo-os à luz por meio de um exigente processo de conscientização e simbolização, integrando nosso lado sombrio — como Juliette Binoche nos lembra na perspicaz entrevista que nos concedeu — é que superaremos o diabo e essa necessidade arcaica, tão antiga quanto a própria humanidade, de projetar no outro, no diferente, no estrangeiro, nossos próprios impulsos indomáveis e nossas ansiedades de fragmentação. (1) De acordo com uma pesquisa da revista Sofres/Pèlerin de dezembro de 2002. (2) Os Valores dos Europeus, Futuribles, julho-agosto de 2002
[...]
O Mundo das Religiões, janeiro-fevereiro de 2005 — Editorial — Quando comecei a trabalhar no ramo editorial e jornalístico no final da década de 1980, a religião não interessava a ninguém. Hoje, em suas diversas formas, a religião permeia a mídia. De fato, o século XXI se inicia com uma influência crescente de "fenômenos religiosos" no curso dos eventos e sociedades mundiais. Por quê? Atualmente, nos deparamos com duas expressões muito diferentes da religião: o ressurgimento da identidade e a necessidade de significado. O ressurgimento da identidade diz respeito ao planeta inteiro. Surge do choque de culturas, de novos conflitos políticos e econômicos que mobilizam a religião como emblema de identidade para um povo, uma nação ou uma civilização. A necessidade de significado afeta principalmente o Ocidente secularizado e desideologizado. Os indivíduos ultramodernos desconfiam das instituições religiosas; pretendem ser os arquitetos de suas próprias vidas, não acreditando mais no futuro brilhante prometido pela ciência e pela política. Mesmo assim, continuam a lidar com questões profundas sobre origem, sofrimento e morte. Da mesma forma, eles têm necessidade de rituais, mitos e símbolos. Essa necessidade de significado reexamina as grandes tradições filosóficas e religiosas da humanidade: o sucesso do budismo e do misticismo, o renascimento do esoterismo e o retorno à sabedoria grega. O despertar da religião, em seus aspectos duais de identidade e espiritualidade, evoca a dupla etimologia da palavra "religião": reunir e conectar. Os seres humanos são animais religiosos porque seu olhar está voltado para os céus e eles questionam o enigma da existência. Eles se reúnem para receber o sagrado. Eles também são religiosos porque buscam se conectar com seus semelhantes em um vínculo sagrado fundado na transcendência. Essa dupla dimensão vertical e horizontal da religião existe desde o alvorecer dos tempos. A religião tem sido uma das principais forças motrizes por trás do nascimento e desenvolvimento das civilizações. Ela produziu coisas sublimes: a compaixão ativa de santos e místicos, obras de caridade, as maiores obras-primas artísticas, valores morais universais e até mesmo o nascimento da ciência. Mas, em sua forma mais brutal, sempre alimentou e legitimou guerras e massacres. O extremismo religioso também tem seus dois lados. O veneno da dimensão vertical é o fanatismo dogmático ou a irracionalidade delirante. Uma espécie de patologia da certeza que pode levar indivíduos e sociedades a todos os extremos em nome da fé. O veneno da dimensão horizontal é o comunalismo racista, uma patologia da identidade coletiva. A mistura explosiva dos dois deu origem à caça às bruxas, à Inquisição, ao assassinato de Yitzhak Rabin e ao 11 de setembro. Diante das ameaças que representam para o planeta, alguns observadores e intelectuais europeus são tentados a reduzir a religião às suas formas extremistas e condená-la por completo (por exemplo, Islã = islamismo radical). Este é um grave erro que apenas amplifica aquilo que pretendemos combater. Só conseguiremos derrotar o extremismo religioso reconhecendo também o valor positivo e civilizador das religiões e aceitando a sua diversidade; reconhecendo que a humanidade precisa do sagrado e dos símbolos, tanto individual quanto coletivamente; Ao abordar as causas profundas dos males que explicam o sucesso atual da manipulação política da religião: desigualdades Norte-Sul, pobreza e injustiça, um novo imperialismo americano, globalização excessivamente rápida e desprezo pelas identidades e costumes tradicionais. O século XXI será o que fizermos dele. A religião pode ser tanto uma ferramenta simbólica usada a serviço de políticas de conquista e destruição quanto um catalisador para a realização individual e a paz mundial dentro da diversidade de culturas. [...]
Le Monde des Religions, novembro-dezembro de 2004 — Editorial — Há alguns anos, temos testemunhado um ressurgimento de certezas religiosas, ligado a um acirramento das políticas identitárias, que vem capturando a atenção da mídia. Creio que isso seja apenas a ponta do iceberg. No que diz respeito ao Ocidente, não podemos perder de vista o progresso alcançado em um século. A edição especial que dedicamos ao centenário da lei francesa que separou Igreja e Estado me deu a oportunidade de revisitar esse contexto incrível de ódio e exclusão mútua que prevalecia na época entre os campos católico e anticlerical. Na Europa, a virada dos séculos XIX e XX foi marcada por certezas. Certezas ideológicas, religiosas e cientificistas. Muitos cristãos estavam convencidos de que crianças não batizadas iriam para o inferno e que somente a sua Igreja possuía a verdade. Os ateus, por sua vez, desprezavam a religião e a consideravam uma alienação antropológica (Feuerbach), intelectual (Comte), econômica (Marx) ou psicológica (Freud). Hoje, na Europa e nos Estados Unidos, 90% dos crentes acreditam, segundo uma pesquisa recente, que nenhuma religião detém a Verdade absoluta, mas que existem verdades em todas as religiões. Os ateus também são mais tolerantes, e a maioria dos cientistas já não considera a religião uma superstição destinada a desaparecer com o progresso da ciência. Em suma, em pouco mais de um século, passamos de um universo fechado de certezas para um mundo aberto de probabilidades. Essa forma moderna de ceticismo, que François Furet chamou de "o horizonte intransponível da modernidade", disseminou-se em nossas sociedades porque os crentes se abriram a outras religiões, mas também porque a modernidade se desfez das certezas herdadas do mito cientificista do progresso: onde o conhecimento avança, a religião e os valores tradicionais recuam. Não nos tornamos, portanto, discípulos de Montaigne? Independentemente de suas convicções filosóficas ou religiosas, a maioria dos ocidentais subscreve ao postulado de que a inteligência humana é incapaz de alcançar verdades últimas e certezas metafísicas definitivas. Em outras palavras, Deus é incerto. Como explicou nosso grande filósofo há cinco séculos, só se pode crer, e também não crer, dentro da incerteza. Devo esclarecer que incerteza não significa dúvida. Pode-se ter fé, convicções profundas e certezas, mas ainda assim admitir que outros, de boa fé e com tantas boas razões quanto nós, podem não compartilhá-las. As entrevistas concedidas ao Le Monde des Religions por dois diretores de teatro, Eric-Emmanuel Schmitt e Peter Brook, são eloquentes a esse respeito. O primeiro acredita fervorosamente em "um Deus não identificável" que "não provém do conhecimento" e afirma que "um pensamento que não duvida de si mesmo não é inteligente". Este último não faz referência a Deus, mas permanece aberto a um ser divino "desconhecido, inominável" e confessa: "Eu gostaria de ter dito: 'Não acredito em nada...' Mas acreditar em nada ainda é a expressão absoluta de uma crença." Tais observações ilustram esse fato, que, a meu ver, merece maior reflexão para que possamos ir além de estereótipos e discursos simplistas: a verdadeira divisão hoje é cada vez menos, como no século passado, entre "crentes" e "não crentes", e menos entre aqueles, "crentes" ou "não crentes", que aceitam a incerteza e aqueles que a rejeitam. — Le Monde des Religions, novembro-dezembro de 2004 [...]
Salvar